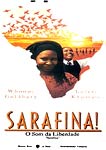| “Sarafina
- O som da liberdade”, de Darell Roodt (1993)
África do Sul em sala de aula
No século XXI, a educação escolar tornou-se uma
função de grande relevância para melhorar a situação
social, econômica dos indivíduos, especialmente, o acesso
da comunidade negra. No campo educacional, há uma lei que determina
o respeito à diversidade cultural da sociedade brasileira.
A comunidade escolar não pode mais aceitar que somente algumas
culturas sejam contempladas nos currículos. É necessário
abolir os privilégios, promover a valorização
de cada indivíduo social, oferecer a oportunidade de apropriação
de ferramentas básicas do conhecimento que permitem melhor
leitura das questões sociais. A democracia só é
possível se for viabilizado um projeto de uma sociedade em
que todos os seus membros são valorizados e incorporados ao
currículo escolar. São conteúdos que propõem
abolir a discriminação racial, imprescindíveis
para a superação da hierarquia cultural. Neste trabalho, propomos refletir sobre a seguinte questão: de que maneira o cinema, ao mostrar os conflitos sociais gerados pelas leis raciais impostas à África do Sul (1911-1991), pode contribuir para formar professores mais preparados e capazes de lidar com o preconceito racial em sala de aula? Para realizar essa tarefa, selecionamos como fonte, o filme: Sarafina - o som da liberdade produzido nos Estados Unidos em 1993, dirigido por Darrel. Roodt com duração de 116 min. Seu enredo enfoca o contexto do sistema apartheid na África do Sul. A escolha deste filme se justifica porque, ao retratar a história da população negra sul-africana no período do apartheid1, traz imagens e mensagens significativas que sustentam o discurso dos dominantes. Com base nos Estudos Culturais, propomos apresentar uma leitura crítica da linguagem cinematográfica. Nesta perspectiva, os autores como Douglas Kellner (2001), Stuar Hall (1997), John Thompson (1998) e a contribuição de Foucault (2003) são relevantes para compreender a lógica da dominação pela segregação racial.
O
cinema na prática pedagógica: A linguagem cinematográfica, no processo de ensino e de aprendizagem, pode colaborar com uma prática questionadora dos padrões estéticos da sociedade e dos discursos dominantes. Kellner (2001) diz que um dos principais temas debatidos sobre a mídia é a sua capacidade de induzir os indivíduos a se identificarem com as ideologias e as representações sociais dos dominantes, porém tratar da mídia apenas como instrumento de dominação e de alienação do público seria limitar a potencialidade que os recursos midiáticos têm a oferecer para uma nova lógica da construção do conhecimento. O filme foi produzido em um universo cultural repleto de ideologias formadoras de opinião. O cinema como meio propagador de idéias políticas, econômicas e sociais, pode ser um veículo eficaz no processo de massificação e consolidação de ideologias que se sustentam em uma lógica da aparência. Turner (1997) argumenta que as idéias e as representações sociais veiculadas no cinema tende a esconder dos homens a maneira como suas relações sociais foram produzidas e a origem das formas sociais de exploração econômica e de dominação política. É justamente esse ocultamento da realidade social que podemos chamar de Ideologia. O poder político e econômico de um grupo social legitima as condições sociais de exploração e de dominação, de tal forma que parecem verdadeiras e justas. Ao utilizar o filme como fonte de estudo ou como ferramenta pedagógica que visa a construir uma sociedade multirracial com base na diversidade cultural, é preciso trabalhar em uma perspectiva critica. O registro das ações humanas, representadas na tela, precisa ser decodificado e interpretado, muitas vezes, desconstruídos, porque o filme traz um discurso, uma representação do real que geralmente estão eivados de ideologias. Thompson (1998) ressalta a necessidade de uma análise sociológica da produção midiática. No decorrer do século XX, os produtores de filmes atuaram como instrumento eficaz no processo de massificação de uma ideologia norteadora do Status quo de grupos dominantes. Nesse sentido, o cinema contribuiu para disseminação da cultura hegemônica como um dos instrumentos de homogeneização cultural. O glamour impregnado nas imagens espetaculares, especialmente dos filmes hollywoodianos difundidos no Brasil, reforça o estereótipo do que é ser belo, do que comer, de como se vestir e do que falar. Ao incorporar os padrões idealizados pela mídia e hierarquizar as culturas, a sociedade tende a marginalizar aqueles que não se adaptam a este padrão de comportamento oriundo das camadas dominantes. De acordo com Leite (2003), no ambiente escolar, as imagens e as mensagens de um filme podem ser trabalhadas em uma perspectiva da desconstrução do chamado “padrão de ser” da camada dominante, já que o discurso da narrativa fílmica, por meio de suas falas que dão sentido as suas imagens, traz em si uma relação de poder. Foucault (1996) alerta: Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo numero de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, esquivar-se de sua pesada e temível materialidade (Foucault, 1996, p.09)
Os discursos dos grupos dominantes naturalizam e identificam as culturas
destes grupos como se fosse a cultura de toda comunidade. Este fato
merece nossa reflexão, uma vez que estes discursos não
contemplam, não reconhecem e, consequentemente, não
respeitam a diversidade cultural constituinte de uma sociedade. Com intuito desconstruir os discursos dos dominantes, selecionamos o filme Sarafina - o som da liberdade, como fonte de pesquisa da história e cultura africana, para propor uma leitura crítica da mídia, como metodologia de ensino na formação de professores. Nas cenas deste filme sobre um povo negro sul africano, subjugado pelos colonizadores holandeses e ingleses, contém imagens que nos permite extrair uma análise sobre o racismo legalizado. A partir desta narrativa, procuramos analisar os discursos que sustentam o preconceito racial em nossa sociedade.
O filme: Sarafina e o discurso dominante Sarafina
é uma adolescente negra que mora em Soweto, um bairro de Johannesburgo,
capital da África do Sul, um dos inúmeros guetos reservados
à população negra no período em que vigorou
o regime do apartheid. Esta adolescente vive uma série de experiências
individuais e coletivas nos mais diferentes contextos de seu meio
social e escolar; apesar de a escola ocupar um espaço importante
na trama, o ambiente de convivência e aprendizagem de Sarafina
não se restringe ao espaço escolar. Em seu cotidiano,
ela expressa sua admiração pelo líder político
Nelson Mandela, que se encontra preso naquele momento retratado no
filme. Mandela não é a única fonte de inspiração para Sarafina. Em sua luta contra o apartheid, ela também vê em sua professora Mary Massammbuko (Whoopi Goldberg) um exemplo a ser seguindo. Massambuko é uma mulher indignada com a submissão de seus colegas professores que não se opõem ao ensino controlado pelo sistema apartheid, baseado na história dos grupos de brancos que estão no poder. Ela começa a destacar em suas aulas de história, a realidade social de seus alunos. É uma professora de coragem ao permitir que a sua turma de jovens, ansiosos por conhecer a si mesmo e ao seu país, visualize uma história muito diferente da história sobre o povo sul africano do currículo oficial, a fim de desnaturalizar aquele conteúdo escolar obrigatório, que tem os brancos como protagonistas e negros como meros coadjuvantes. Os alunos, com a orientação da professora Massambuko, usam a música como instrumento de luta para reivindicar uma educação que valorize os diversos grupos sociais e protestar contra o racismo e o segregacionismo racial. Eles tentam organizar um show para homenagear Mandela, um espetáculo que representa a valorização da história sul-africana, tendo negros e brancos como atores dessa história. Mas este projeto é interrompido bruscamente, porque o sistema vigente usa o seu poder para impedir a manifestação da professora Mary Massambuko e de seus alunos. O filme contém cenas de violência praticadas por grupos dominantes, que utilizam o aparato policial para manter o sistema apartheid por meio de um discurso hieraquizador e impor uma ideologia da submissão, para reproduzir a ordem existente. É visível a desvalorização da cultura africana neste período e a imposição da superioridade branca pela força da lei para subjugar a maioria negra. Neste contexto, as atividades de Sarafina e de outros jovens, tanto no ambiente escolar e quanto nas relações pessoais, vão se modificando com a consciência crítica que é manifestada na indignação da professora diante do ensino privilegiado pelo sistema apartheid. Sarafina se rebela, junto com os amigos. Em seguida, sofre as conseqüências da violenta represália policial. Na
prisão, Sarafina, além de sofrer sessões de torturas,
ainda presencia a torturas de inúmeros jovens, que assim como
ela sonhava com uma África do Sul igual para brancos e negros.
Sarafina começa entender como o poder usado pelo grupo dominante
impõe a idéia de que os negros sul-africanos são
os transgressores quando não aceitam as regras impostas. Ela
percebe que é necessário lutar, de forma inteligente,
pela construção de uma África do Sul livre, onde
todos tenham liberdade de expressão, sem medo de ser punido.
Por isso, ao sair da cadeia, Sarafina vê a necessidade de dar
continuidade ao show que sua professora havia programado. Um show
em homenagem a Nelson Mandela, naquele momento, representava a resistência
contra um sistema violento e repressor, que dependia do aparato policial
de opressão para a sobrevivência da estrutura social
vigente. Na prisão, Mandela, com sua história de vida,
conseguiu conquistar a simpatia de multidões, dentro e fora
de seu país, por resistir ao sistema sem impor ao outro a violência. Segundo Althusser (1985), o Estado utiliza-se de dois tipos de aparelhos: os Aparelhos Repressivos do Estado (ARE), como a polícia e o exército, e os Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE), como a igreja, a escola, os sindicatos e, especialmente, os meios de comunicação. A partir destes conceitos formulados por Althusser sobre os mecanismos de dominação utilizados pelo Estado, podemos entender como se perpetuou esse domínio branco durante mais de 75 anos. No filme, fica evidente a utilização dos dois tipos de aparelhos para sustentar o sistema apartheid. A sua ideologia foi difundida ao longo da história da África do Sul e reproduzia o ideal de vida da classe dominante. A
história apresenta os africânderes como um povo escolhido
e colocado por Deus na ponta meridional da África para cumprir
uma missão divina: a de trazer os povos ‘bárbaros’
à civilização. (...) Portanto a religião
fundamenta a história, cria a nacionalidade africânder
e determina a organização social e política da
África do Sul (LOPES, 1990, p.124). O Levante de Soweto de 1976 é um exemplo de como os Aparelhos Repressivos de Estado foram acionados contra os estudantes negros. Esta manifestação foi um protesto contra a imposição do “africâner” como língua vernácula nas escolas para negros, estabelecido pelo sistema educacional do governo racista. Isto revela a utilização da instituição educacional para manter o “status quo” da classe dominante, por meio do uso de um dos símbolos do dominador – a língua. Neste Levante houve um massacre de crianças e jovens, para punir a contra-resposta organizada e realizada pela classe dominada em uma passeata de protesto. A
política de segregação racial tirou dos negros
os seus direitos políticos e mergulhou a África do Sul
em uma de suas fases mais obscuras da história da humanidade.
Todas as manifestações de indignação e
protestos contra o sistema da parte dos negros sul-africanos eram
violentamente reprimidas com prisões, torturas e até
mortes dos lideres, como foi representado nas imagens de tortura sofrida
por Sarafina e na morte da professora Mary Massambuko, mostrados no
filme. No filme, Sarafina passa pelos métodos disciplinares imposto pela escola, e também como os métodos disciplinares imposto pela prisão. Na escola, Sarafina não se tornou dócil nem receptiva, mas na prisão, Sarafina, sofre a violência da tortura e quando sai frágil e humilhada da cadeia, ela apresenta um comportamento mais dócil. Se não foi possível disciplinar pelo discurso, o método mais agressivo de tortura na prisão impôs sua condição de submissão ao sistema do apartheid. Entretanto, no filme, Sarafina ainda mantém vivo o seu sonho de ver o seu povo negro sul-africano valorizado como cidadãos, tendo os mesmos direitos e deveres garantidos aos brancos. Os pesquisadores dos Estudos Culturais defendem a equiparação das diversas formas de conhecimento. Nessa linha teórica, não se pode estabelecer uma hierarquia entre as diferentes culturas, porque “todas as culturas são consideradas epistemologicamente e antrologicamente equivalentes, não se pode estabelecer nenhum critério pelo qual uma cultura pode ser julgada superior à outra”. (Silva, 2002, p. 86). Ou seja, nas relações étnico-raciais, a valorização de um determinado aspecto cultural e a desvalorização de outro é uma imposição ideológica. África
do Sul e o apartheid legalizado: Magnoli (1998) argumenta que as leis do apartheid começaram a ser promulgada em 1911, porém só foram inseridas oficialmente na Constituição da África do Sul em 1948. A partir dessa data, institucionalizou-se o regime legislativo de segregação racial. Ao longo dos próximos 40 anos, foram estabelecidas várias leis que promoveram e ampliaram a discriminação racial, exemplo disso é a lei básica do regime branco que definia as áreas de separação geográficas entre as categorias raciais – bairros étnicos ou os bantustões. A separação espacial também era obrigatória em praias, transportes, piscinas, bibliotecas, banheiros públicos, teatros, e outros lugares públicos. Pereira (1985) diz que esse processo foi chamado de pequeno apartheid, a partir daí tentou-se implantar o grande apartheid, que pretendia formar uma África do Sul totalmente branca. Dessa forma, os bantustões tornar-se-iam estados independentes e seus moradores passariam a ser cidadãos desses pequenos paises, mas estrangeiros no restante do território sul africano, inclusive nas regiões onde os negros trabalhavam. Com esta política, segundo Pereira (1985), os brancos conservavam 87% das melhores terras do território da África do Sul, deixando a população negra com cerca de 12,7% do território. Este regime atuava também sobre o convívio entre as raças, como a lei de matrimônio pelas quais as uniões mistas eram consideradas ilegais, lei do passe que controlava o movimento da mão-de-obra negra na região branca e as leis que regulavam os sindicatos e greves. De
acordo com Cornevin (1979) e Lopes (1990), quando se tratava do sistema
educacional sul africano voltado para os negros, eles eram educados
para ocupar a sua “posição na vida” que
era de obediência e submissão. O sistema opressor na
escola e a conformação com sistema político imposto
pelo apartheid desencadeou o Levante de Soweto no ano de 1976. Um
grupo de estudantes negros saiu em marcha pelas ruas para protestar
contra a imposição da língua africâner
nas escolas negras, considerada a língua do opressor pelos
nativos sul africanos. A manifestação foi repreendida
violentamente. No final de alguns dias de conflitos, foram computados
mais de 100 mortos, mil feridos e muitos presos. No filme, fica evidente o discurso hierarquizador que privilegia o conhecimento eurocentrista em detrimento de outros conhecimentos formadores da cultura sul-africana. Como fonte desta investigação, o filme Sarafina exibe uma representação da sobreposição de uma cultura à outra. Segundo Silva (1999), os Estudos Culturais, porém, consideram a cultura como um campo de produção de significados, em que os diferentes grupos sociais situados em posições diferenciadas de poder lutam para preservar suas idéias e combater a padronização da identidade como se fosse única para toda sociedade. Por isso, é preciso questionar e desconstruir as narrativas que se perpetuaram em nossa sociedade e, conseqüentemente, nos conteúdos escolares. Apesar da ação dos Aparelhos Ideológicos e Repressivos, a classe dominante não conseguiu manter durante todo o tempo sua supremacia ideológica sobre as classes dominadas. Com os genocídios resultantes das contradições entre as classes, mobilizaram uma intervenção internacional que desencadearam o fim do regime apartheid. O atual presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, durante uma grande passeata que marcava os 25 anos do Levante de Soweto, declarou que a luta contra o racismo continua, porque o fim do regime apartheid, em 1994, não acabou com a miséria. Quase 30 anos depois dos bárbaros acontecimentos, Soweto é um bairro de uma grande cidade, onde também há casas luxuosas e mansões. Alguns de seus moradores ostentam riqueza, mas sabem o risco de se ter muito em um lugar onde muitos, nada têm, conforme afirma Jimmy, um de seus moradores: O apartheid acabou, mas agora temos o apartheid econômico, em qualquer parte do mundo, argumenta Jimmy. Ele acredita que as mudanças mais profundas dependem das novas gerações.’Temos a esperança de que nós vamos melhorar juntos - negros, brancos, amarelos. Agora, somos iguais perante a lei, e isso não é um sonho (MAGNOLI, 1998 p.78). Apesar do grupo dominante, de uma minoria branca, impor uma identidade de submissão à população negra sul africana, existiram vários movimentos de resistência. No entanto, as populações da África do Sul continuam, ainda marcado pelo estigma da cor e pelas lembranças do apartheid racial. Agora, a luta é contra o outro tipo de apartheid, o apartheid econômico. Stuart Hall (1987) argumenta que a sociedade é um campo de luta, portanto, a nossa identidade é mutável e o processo de construção de identidade se expressa nos sistemas culturais que nos rodeiam. Neste sentido, uma identidade não é imposta sem uma resistência, pois a sociedade é um campo de luta. A construção da identidade só é possível por causa dos sistemas culturais que nos rodeiam. No filme, há o momento em que Sarafina começa a descontruir o discurso do grupo dominante e a valorizar a própria cultura como formadora de sua própria identidade. Conclusão: O sistema apartheid representou um modelo de hierarquização cultural do homem branco europeu sobre o negro sul-africano. Por isso, a discussão sobre a segregação racial pode contribuir para viabilizar um ambiente que favoreça o reconhecimento e a valorização da cultura africana para história da humanidade e inserir maior visibilidade aos seus conteúdos até hoje negados pela cultura dominante. Esse tipo de ação contribui também para promover um conhecimento de si e do outro, em prol da reconstrução das relações raciais desgastadas pela hierarquização étnico-racial perpetuada no decorrer da história. Referências Delton
Aparecido Felipe,
|