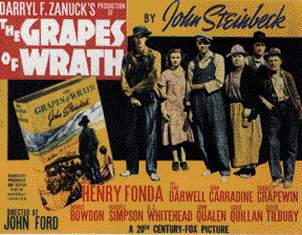|
|
“Vinhas
da Ira” de John Ford
(1940)
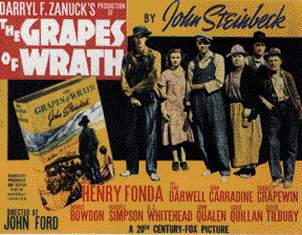
Crises
cíclicas do capitalismo e impactos nas condições
de vida da classe trabalhadora
“As
vezes eles fazem coisas com você.
Eles o machucam até você se tornar um homem mau.
E o machucam de novo e você se torna pior ainda.
Até que não é mais menino nem homem, apenas malvadeza
encarnada.”
(Ma Joad).
Introdução
Nessa sintética análise do filme “As Vinhas da
Ira” (1940), em termos metodológicos, também consideramos
a narrativa fílmica como uma totalidade semiótica com
intensa capacidade de interação e produção
de significados, que vão além de luz, som, roteiro e
atuação. Se por um lado um filme não é
apenas um complexo de técnicas aglomeradas, ele também
não é auto-explicativo, pelo contrário, torna-se
mais difícil compreender uma produção humana
se não compreendemos o contexto social no qual foi produzido,
pois, está repleto de significação social-histórica.
O produtor também é produzido por determinada realidade
e suas respostas podem ser múltiplas, tratam-se estruturas
pré-postas que lhe exigem respostas e tomadas de posições.
Nesse sentido, a arte é entendida aqui como emanação
de potencialidade que se objetiva de variadas formas, seja na forma
de pintura, literatura, esculturas, cinema, teatro, música,
dança, ciências, entre outros.
A narrativa fílmica, por ser produzida por seres sociais de
um período social determinado traz sempre à reflexão
um complexo articulado, como sínteses de múltiplas determinações
históricas à disposição do espectador,
uma interpretação da realidade que é marcada
universo humano-social, e que não pode furtar-se completamente
disso. Por outro lado, a interpretação do espectador
tende a ser marcada não apenas pelos elementos apresentados
pela narrativa, mas também é influenciada pela realidade
do espectador, que re-significa e interpreta os elementos que lhe
são apresentados. Nesse sentido o espectador também
é sempre sujeito atuante, o que faz dele um sujeito-espectador.
Desta forma, um dos elementos centrais a ser observado na narrativa
fílmica é a forma histórico-social nos quais
aspectos das relações de hominidade são representados.
Por se tratar de abordagens distintas de elementos constitutivos das
relações humanas, ainda que de variadas formas, em muitos
aspectos a narrativa pode transcender a imediaticidade histórica
de sua produção, podendo estimular a pensar não
apenas o período em que se decorre a narrativa, mas também
a própria realidade material e social do sujeito-espectador
a partir de elementos concreto-objetivos recorrentes em nosso tempo
presente. Ou seja, trata-se da interação de temporalidades
distintas, a do tempo da produção da obra e a do tempo
presente do sujeito-espectador. Esta confrontação temporal
e social oferece ampla gama de aspectos e elementos que conformam
e disponibilizam vias para a crítica das relações
sociais.

Análise
do filme
O filme “As Vinhas da Ira”, dirigido por Jonh Ford, é
um excelente exemplo de obra de arte que se faz clássica pela
riqueza de sua abordagem, principalmente por tratar de problemas sociais
ainda atuais, que perpassam gerações durante o desenvolvimento
das relações burguesas, tais como consciência
de classes, superexploração do trabalho, formas de materialização
da disciplina e violência na ordem burguesa. O filme foi baseado
no romance de John Steinbeck, que têm o mesmo título.
Servido-se largamente dos efeitos Claro e Escuro, o diretor em um
intenso e envolvente discurso fílmico narra por meio do drama
da Família Joad a história de famílias de trabalhadores
rurais durante a Grande Depressão Econômica, que vai
de 1929 até a primeira metade dos anos de 1930.
Rumo
à Califórnia
Somou-se
à Grande Depressão, fatores de ordem natural climático
que geraram um período de baixa produtividade agrícola,
com isso, muitos fazendeiros ficam endividados perdem as terras hipotecadas
e vão à falência, pequenos proprietários
e arrendatários são expulsos das terras onde vivem e
trabalham, suas casas são demolidas por tratores, além
disso, são contratados capangas e policiais pelos proprietários
para garantir que as famílias abandonassem as terras onde viviam.
Embora não possamos subestimar a importância e os impactos
das crises do sistema capitalista, é necessário observar
que elas, não podem ser encaradas apenas como fenômenos
eventuais, mas sim como parte intrínseca da dinâmica
organizacional e da própria reorganização do
sistema capitalista, que hora desencadeiam processos mais ou menos
intensos e traumáticos. Como nos lembra Hunt: [...] Na primeira
metade do século XIX, por exemplo, os Estados Unidos só
tiveram duas crises econômicas graves (que começaram
em 1919 e em 1937) e a Inglaterra teve quatro (que começaram
em 1815, 1825, 1836, 1847). Na ultima metade do século, as
crises ficaram mais graves e aumentaram para cinco, nos Estados Unidos
(começando em 1857, 1866, 1873, 1884, 1894 e 1893), e seis
na Inglaterra (começando em 1857, 1866, 1873, 1882, 1890 e
1900). No século XX, a situação ficou pior. Depressões
cada vez mais freqüentes infestaram o capitalismo, tendo culminado
com a Grande Depressão dos anos 30. (Hunt, 1981).
Diante da Grande Depressão e de seus impactos, a solução
encontrada de imediato pelos grandes capitalistas e proprietários
era a de interromper qualquer processo produtivo. Com isso os camponeses
se tornam desnecessários, um peso que deveria ser expurgado.
Ou seja, a crise atinge a todos, mas desencadeia impactos financeiros
e de sobrevivência diferenciados em cada grupo social ou famílias,
de acordo com suas posses. Os proprietários agarram-se à
propriedade aguardando o final da crise, para com isso entrar em um
novo ciclo de acumulação. A “classe” trabalhadora,
por possuir como forma de assegurar sua sobrevivência apenas
sua própria força de trabalho, não pode simplesmente
deixar de trabalhar durantes as crises, ou aguardar em suas casas
até que a crise ceda. Os trabalhadores despossuidos precisam
continuar trabalhando, e vendendo sua força de trabalho continuamente,
pois caso não o façam, por não possuir nenhuma
outra forma de assegurar o básico necessário à
sobrevivência do ser humano, enquanto seres naturais ficam expostos
ao risco eminente da miséria, fome, e da morte. Então
correm de um canto a outro, de Norte a Sul, em busca de quaisquer
formas de emprego, porém, dada à forma com se organiza
a propriedade, o sistema de lucro e o salariato, os que estão
com a posse dos meios de produção podem recusar-se a
qualquer investimento, ou mesmo, recusar-se a permitir que os sem-propriedade
compartilhem dos meios de produção, que são também
nesse sentido, meios de produção e reprodução
da vida. Para termos uma idéia aproximada de tal problemática
considerar que: Entre 1929 e 1932, houve mais de 58.000 falências
de empresas; mais de 5.000 bancos suspenderam suas operações;
os valores de das ações da bolsa de valores de Nova
Iorque caíram de 87 bilhões para 19 bilhões de
dólares; o desemprego aumentou para 12 milhões, com
quase um quarto da população sem meios de se sustentar;
a renda agrícola caiu a menos da metade e o produto industrial
caiu quase 50%. (HUNT, 1981).
As famílias pobres de Oklahoma, que tinham a posse da terra
onde moravam, mas que não eram proprietários, como crise
produtiva, financeira e imobiliária, ficam sem ter onde morar
e trabalhar, ou seja, não tem mais como sobreviver nesta região.
Assim muitas destas famílias se viram obrigada a migrarem para
outras regiões dos Estados Unidos.
Se o lucro não é satisfatório
não tem emprego
A família Joad, como muitas do Estado de Oklahoma
migram para a Califórnia em busca de promessas de trabalho
e meios de sustentar-se através da colheita de pêssegos.
Tom Joad (Henry Fonda), o filho mais velho da família Joad,
sai da prisão depois de quatro anos, e ao retornar para casa
encontra sua região totalmente transformada pela seca e pela
crise. Tom Joad reencontra a família as vésperas de
uma migração em busca de trabalho. É ele quem
leva sua família em uma pequena caminhonete, de Oklahoma para
a Califórnia pela Route 66 (ironicamente as famílias
percorrem a mesma rota dos conquistadores do Oeste).
A Califórnia, naquele momento surgia no imaginário das
famílias de Oklahoma como uma esperança derradeira,
pois prometia de muitos empregos, como diz o panfleto “muito
trabalho na Califórnia. Precisa-se de 800 colhedores”,
a esperança de encontrar salário e estabilidade, frente
à dirupção de toda uma organização
social, que implica também a dissolução de formas
de vida, deu impulso para que as famílias pensassem a possibilidade
de se restabelecer em outro lugar. A Califórnia é vista
aqui como uma chance de recomeço, um lugar mais próspero
com novas oportunidades. Mas como mostra o filme, não seria
tão fácil abandonar a terra onde estas famílias
viviam a gerações. Pois a terra é mais do que
o meio de onde as famílias tiram o seu sustento, é nela
onde as famílias desenvolveram seus laços sociais e
todo um universo de significados, com formas específicas de
pensar, compreender e agir sobre a realidade, desta forma, a terra
é mais do que o local onde se vive. Deve-se levar em conta,
além do apego a terra, os vínculos de amizade e os vínculos
familiares que são esgarçados mediante tal processo.
O capitalismo dilacera os laços comunais, arranca os camponeses
da terra onde viveram por gerações.
A família Joad, como os outros trabalhadores agrícolas
retratados no filme, ao perder a posse das terras, onde podiam cultivar
e comercializar seus produtos mediante parceria com os proprietários
das terras, passa por um processo de proletarização,
com a conseqüente e característica perda total do controle
sobre o que produzem. A terra que cultivavam era também sua
única fonte de renda, era nela onde toda a família trabalhava
e conseguia seu sustento diário. Com a migração
para a Califórnia, as famílias de Oklahoma deixam de
ser proprietários do que produzem e passam a depender da oferta
de trabalho e de salário para sobreviverem. Os agricultores
são convertidos em força de trabalho, pois deixam de
produzir para si mesmos e passam de uma classe para outra, e com isso
passam a depender de serem contratados como assalariados para comer
e beber e morar.

Durante a chegada à Califórnia, a primeira impressão
não transmite bom presságio, pois a família Joad
defronta-se como inúmeras outras famílias que migraram
para Califórnia em busca de melhores condições
de vida, mas que não conseguiram emprego, e estão agora
em grandes acampamentos improvisados slum (favelas), em condições
precárias de sobrevivência, sem nem ao menos ter garantido
lugar onde morar e o que comer. Os grandes proprietários da
Califórnia podem ainda tirar proveito de tal situação.
Pois com o amplo contingente de trabalhadores despossuidos a disposição
dos donos dos meios de produção, os grandes proprietários,
que monopolizam a produção e o comércio, podem
fazer baixar ao mínimo possível os salários dos
trabalhadores.
O capitalismo predatório não tem limites, todos são
fontes de mais-valia, é o que se pode observar ao longo do
filme. Na Califórnia mesmo as crianças e os idosos são
recrutados para a rotina extenuante e baixos salários. Toda
família Joad se vê obrigada a entrega-se à colheita
dos pêssegos a fim de contribuírem com a renda mínima
necessária para prover a alimentação de todos
seus membros. A busca desenfreada do capitalista pelo lucro e acumulo
para o benefício da burguesia agrária, lança
as famílias camponesas em uma situação de proletarização,
diante da concorrência obrigatória pela sobrevivência,
reduzindo o homem a busca cotidiana da realização de
suas necessidades básicas, comer, beber e dormir.
Outro aspecto importante que pode ser observado é que com a
reorganização do capitalismo, que obriga a reorganização
das famílias dos trabalhadores, abre-se também a possibilidade
para uma nova tomada de consciência sobre a realidade, trata-se
de um processo de re-significação da realidade, movido
pelas transformações da realidade material, tal desdobramento
pode ser observado no filme sobre diversas instâncias. Como
por exe. no caso do jovem Tom Joad, que começa fazer novos
questionamento a si próprio a nova realidade que o cerca e
ainda em muitos momentos Tom Joad ousa se incitar contra esta realidade
posta que subsume sua família e sua classe. Isso também
pode ser observado, de maneira ainda mais evidente no caso do ex-pastor
Casey, que, aos poucos, passa a substituir a centralidade depositada
na crença religiosa, pela investigação das causas
materiais que determinam a realidade material a sua volta.
Isso porque é impossível separar a realidade material
da forma como ela é produzida, pois as forma de produzir mercadorias
(independente de serem pêssegos, laranjas ou algodão),
são também formas de produzir a realidade material.
Como já destacava Marx, “um modo de produção
ou estágio industrial determinados estão constantemente
ligados a um modo de cooperação ou um estágio
social determinados, e que esse modo de cooperação é,
ele próprio, uma “força produtiva”; decorre
igualmente que a massa das forças produtivas acessíveis
aos homens determinam o estado social” (MARX, 1998, p. 24).
Também para Gramsci, complementando a análise de Marx,
os “métodos de trabalho são indissociáveis
de um determinado modo de viver, de pensar e de sentir a vida; não
é possível obter êxito num campo sem obter resultados
tangíveis no outro” (GRAMSCI, 1999, p. 266).
A forma como esta estruturada a realidade social é a base da
sociabilidade, na lógica do capitalismo que busca-se submeter
os sem-propriedade a está estrutura. Porém, dizer que
o modo como uma realidade material este é estruturada é
a base da sociabilidade é diferente de dizer que é ela
quem determina formas de pensar e agir de determinados grupos. A classe
hegemônica busca submeter os sem-propriedade, os trabalhadores,
aos seus imperativos, porém os despossuidos constantemente
estão em luta contra tal estrutura.
A estrutura, embora seja uma base pré-posta, não determina
os sujeitos. Exemplo de tal rejeição aos imperativos
do capital são as posturas de Tom Joad, do ex-pastor Casey
e de muitos outros trabalhadores que se unem contra a exploração
imposta pelos grandes proprietários em “As vinhas da
ira”. E ainda de forma mais trágica o que se passa com
Muley Graves, que passa a refugiar-se na ex-casa abandonada, recusando-se
a migrar para a Califórnia. Algo semelhante acontece com o
avô William James Joad que embora em um primeniro momento demostre-se
empolgado com a migração: “Espere até eu
chegar lá. Vou comer laranja quando quiser”. Num segundo
momento, na hora da partida, e de abandonar a fazenda, o avô
Joad desespera-se agarrando a terra, e diz : “Esta é
minha terra e eu pertenço a ela”. Os impactos do choque
são de tal amplitude que o avô falecerá. Isto
evidencia que os proprietários, em busca do lucro, lutam para
conferir determinda trajetória de desenvolvimento para a realidade
social. Porém não o fazem sem a intensa resistência
dos trabalhadores, que compreendem e, em diversas circunstâcias,
buscam negar a ordem imposta à força.
Porém, um elemento importante que dificulta o processo de organização
e de negação/superação das condições
de pobreza e de privação em que a classe trabalhadora
é mantida, é que a melhora de suas condições
de vida, o fim da superexploração dos trabalhadores,
choca-se com os objetivos da burguesia, que é favorecida pela
ordem do capital, e por isso a burguesia luta, por meio de uma infinidade
de instrumentos para “conservar” as coisas como estão.
Ou seja, a riqueza e prosperidade da burguesia é parte constituinte
da miséria de milhões. Com isso os objetivos da burguesia
tornam-se opostos às necessidades históricas da classe
trabalhadora.
Para que o capitalismo mantenha seu vigor e organicidade, como modo
de produção dominante, assegurando sua própria
reprodutibilidade enquanto modelo de organização social,
deve-se garantir que mantenha, em intensidade e extensão, a
ordem das coisas como elas estão, isso para que se assegure
que o desenvolvimento social siga determinado sentido. Mas, conforme
destacamos no caso dos trabalhadores em “As Vinhas da Ira”,
tal prerrogativa não se realiza com facilidade, pelo contrário,
pois os trabalhadores, enquanto classe para si (e mesmo como sujeitos
“isolados”) em luta diária e também de tempos
em tempos se contrapõe à burguesia em luta intensa.
Por isso é necessária a burguesia um grande exercício
em busca de desenvolver capacidade de controle dos corpos e mentes
e da geração de mais-valia. Ou seja, mesmo a relação
capital-trabalho alterando-se historicamente, com o movimento da sociedade,
trata-se de assegurar o nexo principal do capitalismo, que seja formas
eficientes de dominação-produção-de-consenso
e reprodução da mais-valia. Não se consegue manter
a estrutura do capital sem uma grande dose de violência contra
os trabalhadores, individualmente ou em grupo.
Foucault em “Vigiar e Punir” é um dos autores que
mais desenvolverá a discussão sobre a importância
da utilização do poder para formar corpos e mentes em
busca de uma disciplina específica. Suas formulações
complementam, em determinada medida, a perspectiva elaborada por Marx,
Gramsci e Althusser. Foucault destaca que as pessoas não se
rendem aos imperativos do sistema produtivo apenas pela identificação
com seus objetivos, ou mesmo conduzidas por necessidades imediatas,
e nem ainda, apenas por força da ideologia dominante, mas também
e principalmente, por que sucumbem frente às múltiplas
formas de coerções que lhe são impostas. É
por meio de uma série de mecanismos que se torna possível
o controle. Foucault destaca que a burguesia, para conseguir a cooperação
dos trabalhadores, precisa servir-se de coação calculada
que torne possível direcionar e controlar ações
sociais.
A partir da dominação e adestramento dos corpos é
que se desenvolvem técnicas de gestão de construção
de disciplina eficientes que buscam a formação da docilidade-utilidade
para fins específicos dos interesses da burguesia. A disciplina
se dissemina e é disseminada pelas instituições
sociais, Estado, escolas (que incluem as escolas técnicas e
de arte), igrejas, conventos, universidades entre tantas outras. As
instituições tratam de disseminar e desenvolver, por
meio de uma série de mecanismos, as políticas de coerção.
É importante destacar que as relações capital-trabalho
não se dão no campo da plena harmonia, onde sujeitos
livres entram em livres relações comerciais, como defendem
os liberais. Existe além das necessidades materiais, e do “consenso”
uma intensa relação de poder que intenta enquadrar os
homens, como forma de criar uma disciplina e com isso buscam manter
determinada formação social, ou a ordem da coisa como
estão. Um dos obstáculos ao rompimento destas formas
de dominação é que estas formas de coação
também modificam-se como o movimento da sociedade. Cada modo
de produção tem suas próprias necessidades e
por isso desenvolvem em tal proporção as técnicas
de coerção, dominações e produção
de consensos. Tom Joad sentiu na pele a violenta reação
burguesa, e Casey pagou com a própria vida por ter buscado
descobrir o que estava errado.

Violência contra os sem-propriedade
A
violência dos proprietários dos meios de produção
pode ser entendida, grosso modo, pela existência de grupos que
querem conservar as formas de organização social e a
submissão de determinadas classes, ao mesmo tempo em que podem
existir classes ou grupos que queiram transformar esta mesma realidade
e definir novas formas de relações sociais. Com a migração,
a família Joad entra em novas relações de trabalho.
Com isso, deparam-se novos graus de exploração, que
os colocam ao nível da subsistência. Segundo as regras
de tal organização social do trabalho, o próprio
homem (des-possuído de meios de produção) torna-se
uma mercadoria “tão mais barata quanto mais mercadorias
produz”. A des-possessão dos meios de produção
força os trabalhadores de Oklahoma a adentrarem às novas
formas de relações de venda de sua força de trabalho.
Sendo que um dos pilares que sustentam a subordinação
do homem aos imperativos do capital é a existência e
manutenção da propriedade privada. Quando os personagens
chegam à Califórnia entram em outras relações
entre proprietários e não-proprietários. Para
Marx, a forma como os homens organizam a propriedade e o processo
produtivo influencia todas as outras esferas sociais, como o Estado,
direito, religião etc. Tal organização social
define como os sujeitos devem se relacionar com a propriedade e seus
proprietários, eles devem agir sob determinado sistema de regras.
Porém o fato é que nem todos os trabalhadores aceitam
tal prerrogativa passivamente, muitos deles a questionam e a enfrentam.
Mas ao contrariar os interesses dos proprietários dos meios
de produção, os trabalhadores estão questionando
o “calcanhar de Aquiles” do sistema capitalista. O que
dificulta o processo de transformação radical da realidade
são justamente os objetivos da burguesia, que é favorecida
pela ordem das coisas como estão (do capital), e por isso esta
classe (que também não é homogênea, mas
é dominante) luta, por meio de uma infinidade de instrumentos
para “conservar” as coisas como estão. Sem exercer
coação/repressão sobre a classe trabalhadora
não haveria propriedade privada e nem mais-valia, essa coação/repressão
se materializa, principalmente, como forma de objetivação
dos interesses dos proprietários dos meios de produção.
Os meios de produção tornaram-se propriedade absoluta
de determinadas pessoas, ou grupos, que podem também ser chamados
de classe, os meios de produção são protegidos
pelo braço armado do Estado, pelo sistema jurídico e
pela segurança privada, que devem, entre outros, assegurar
que o “direito” à propriedade privada e à
compra e venda de força de trabalho permaneça intacto.
O imenso poder aglutinado pelos proprietários dos meios de
produção confere-lhes o “direito” de impor
suas próprias regras aos não proprietários. São
os homens detentores das propriedades, por meio das instituições
que lhe representam, que definem a forma como os sem-propriedade devem
se relacionar com os com-propriedade. Tal lógica gera, além
do imenso poder pessoal, a obrigatoriedade da venda da força
de trabalho dos que não possuem propriedade. Com isso, o trabalhador
deve se submeter ao poder do capitalista e da propriedade privada.
Ora, não é esse caso dos proletarizados de Oklahoma?
De acordo com tal lógica, quem não possui meios de produção
(que são também meios de reprodução da
vida orgânica) é obrigado a vender sua força de
trabalho, pelo preço que os donos dos meios de produção
determinam (sozinhos ou em grupo). Ora trata-se então de uma
intensa relação de poder que limita a liberdade genérica
dos que não possuem meios de produzir e reproduzir sua vida.
Todo esse sistema colabora para a submissão física (e
psíquica) dos que não possuem propriedade aos interesses
dos que possuem! Através desta estruturação os
donos dos meios de produção podem valer-se de seu extenso
poder sobre os homens des-possuídos e sobres seus corpos, impondo-lhes
disciplina da produção oferecendo-lhes em troca apenas
o que comer. Isso é o que garante aos proprietários
a extração de mais-valia dos homens não-proprietários.
Com isso os objetivos da burguesia tornam-se antagônicos ao
exercício pleno da liberdade humana, e do exercício
de sua potencialidade enquanto seres genéricos. Mas os trabalhadores
de tempos em tempos se organizam enquanto a classe e se contrapõem
à burguesia em luta intensa. Por isso a burguesia necessita
de um grande exercício em busca de desenvolver capacidade de
controle dos sem-propriedade. A vigilância é necessária
para evitar que as pessoas desenvolvam respostas que não interessam
a determinada instituição ou formação
social, pois “se pudessem, os trabalhadores fugiriam do trabalho
como se foge de uma peste!”. Nesse sentido, a história
do desenvolvimento do capitalismo é também marcada por
uma trajetória de violência e sangue. No filme há
diversas passagens que reafirmam o poder da propriedade frente aos
trabalhadores. Ainda no acampamento a beira da estrada, quando um
dos trabalhadores duvida do agenciador, a reação é
imediata: “É algum criador de caso?”, e este é
obrigado a fugir. Tais elementos são importantes para entendermos
o porquê da morte de Casey, e também a surra e perseguição
pela qual passou Tom Joad.
Qualquer resquício de consciência de classe deve ser
apagado, mesmo que isso possa custar vidas. E é tomado de assalto
por tal realidade, e o ímpeto de dar resposta a esta realidade
que Tom Joad, em meio aos seus questionamentos formulados durante
os confrontos com o poder da propriedade privada, percebe a generalidade
dos obstáculos impostos pela propriedade privada e a importâncias
da organização, resistência e luta contra os proprietários,
são lutas e investidas que se dão por toda parte. A
partir de tal apreensão da realidade Tom Joad declara:
Onde
houver uma luta para que os famintos possam comer, eu estarei lá.
Onde houver um policial surrando um sujeito, eu estarei lá.
Estarei onde os homens gritam quando estão enlouquecidos. Estarei
onde as crianças riem quando estão com fome e sabem
que o jantar está pronto. E quando as pessoas estiverem comendo
o que plantaram e vivendo nas casas que construíram. Eu também
estarei lá.
“As
Vinhas da Ira”, em uma construção impressionante
de Jonh Ford, elucida aspectos importantes da trajetória de
desenvolvimento do capitalismo, também por isso, o filme traz
elementos que transcende o período histórico no qual
foi produzido, tratando de elementos constitutivos da sociedade de
classes, como consciência de classe, superexploração
da força de trabalho, e violência característica
histórica da lógica burguesa.
Bibliografia
ALVES, G. As Vinhas da ira. In: http://www.telacritica.org/VinhasDaIra.htm.
Visitado em 25/09/2007 às 16:55.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir; História da violência nas
prisões. Petrópolis: Vozes, 24ª Ed. 2001.
HUNT, E. K., “História do pensamento econômico”.
Rio de Janeiro, Campus, 1981.
GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. Civilização
Brasileira. Rio de Janeiro, 1999.
KOSIK, K. Dialética do concreto. Paz e Terra, Rio de Janeiro,
1973.
MARX,
K. Manuscritos econômico-filosóficos. Editora Boitempo:
São Paulo, 2004.
______.
A Ideologia Alemã (Feuerbach). Martins Fontes, São Paulo,
1998.
MOURA,
A. Neoliberalismo, precarização do trabalho e a desconstrução
da classe operária no Brasil 1990-2005.
Monografia defendida em 12/12/2007. UNESP: Campus de Marília
Alessandro
de Moura,
é graduando em Ciências Sociais na UNESP
e bolsista PIBIC-CNPq.
(2007)
|
|