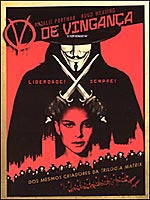|
|
“V
de Vingança” de James McTeigue
(2006)
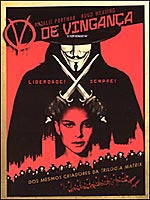
"Remember,
remember, the 5th of November
The gunpowder, treason and plot;
I know of no reason, why the gunpowder treason
Should ever be forgot."
Criada
por Alan Moore (roteirista) e David Lloyd (arte) nos anos 1980, a
HQ, V de Vingança (V for Vendetta, no original), chegou
às telas dos cinemas em 2005, trazendo a figura do anti-herói
de codinome V em sua missão de explodir o Parlamento britânico,
repetindo a tentativa feita por Guy Fawkes em 1605 na “Conspiração
da Pólvora”. A “Conspiração”
foi orquestrada por um grupo de católicos insatisfeitos com
a falta de isonomia no tratamento entre católicos e protestantes
pelo então rei Jaime I. Guy Fawkes era o especialista em pólvora
e fora preso estocando a pólvora sob o prédio do Parlamento,
após a conspiração vazar aos ouvidos do rei.
Aliás, são feitas várias referências à
“Conspiração” durante o filme, como a rima
supracitada, assim como o ideal de se explodir um símbolo como
estratégia catalisadora para uma transformação
social a partir da afirmação e revolta dos indivíduos.
Não é possível afirmar com clareza o momento
temporal do filme, a não ser que se passa num futuro não
muito distante assim. O contexto histórico-social é
diluído no filme, ao contrário da HQ, em que se explica
a ascensão ao poder do grupo fascista “Nórdica
chama”, associado às corporações que restaram
dos destroços da guerra nuclear que varreu os Estados Unidos,
mas que atingiu a Inglaterra através da transformação
criminosa dos efeitos climáticos. Aliás, a comparação
da HQ e de sua adaptação às telonas é
quase uma tentação para os fãs da série.
Se a HQ dá a entender de que se instaurou uma ditadura empresarial-militar
fascista decorrente de um golpe de estado (situação
ainda muito presente no início dos anos 1980, quando foi escrita),
no filme, o grupo chega ao poder através de eleições,
o que já demonstra a incorporação da democracia
formal pela burguesia no século XXI.

Destacaríamos como personagens principais V (Hugo Weaving),
Evey (Natalie Portman) e Inspetor Finch (Stephen Rea). Todos esses
personagens passam por transformações significativas.
V é o resultado da frustrada experiência de testes comandados
pela indústria farmacêutica dos membros do Partido e
futuros governantes do país no campo de readaptação
de Larkhill, onde eram levados os excluídos da nova sociedade,
o que incluía minorias étnicas, sexuais, imigrantes
e ativistas políticos. No filme, Larkhill se constitui a fonte
experimental para riqueza posterior dos membros do Partido e sua ascensão
ao controle do aparato do Estado. V é puro ódio contra
aqueles que lhe torturaram, manipularam suas propriedades psíquicas
e fisiológicas, e esse desejo de vingança, o combustível
para suas ações “terroristas”, fazendo assim
a sua justiça pessoal, já que a justiça legalmente
constituída não pertenceria mais aos cidadãos,
mas à classe dominante. A HQ nos ajuda a compreender o significado
da Justiça para V. Ele diz que “Eu a admirava, apesar
da distância (personificada pela estátua no alto do Old
Bailey). Ainda criança, passando pela rua, eu admirava sua
beleza”. Porém, naquele contexto a Justiça não
passava de uma meretriz que flertava com os homens de uniforme. Quando
“perguntado” pela estátua sobre quem tomou o seu
lugar, ele responde que “seu nome é anarquia [...] com
ela, aprendi que não há sentido na justiça sem
liberdade” (p.43).
Evey é uma jovem bem instruída, amante das artes, porém
assustada e temerosa. Seus pais foram executados pelas forças
policiais por serem ativistas políticos que protestavam contra
a ascensão do grupo fascista ao poder e ainda por cima, trabalha
no canal BTN, a TV estatal rigidamente comandada pelo governo. Ela
é salva por V após quase ser estuprada pelos Homens-Dedo
(policiais). Seu personagem passa por uma verdadeira metamorfose no
decorrer da película. Se no início do filme, mostrava-se
servil e obediente ao sistema (apesar da plena consciência da
tirania no poder) e às normas legais, depois passa a compreender
os propósitos de V, forjando assim, não uma consciência
de classe, mas uma consciência de luta contra a opressão
da sociedade. Outro aspecto incorporado por Evey em decorrência
de sua convivência com V é a ausência de uma identidade
própria. Liberta de seus medos e fraquezas, Evey consegue sobreviver
na Londres caótica sem se deixar reconhecer (e talvez sem reconhecer
a mesma Evey).

Inspetor Finch, magistralmente interpretado por Rea, representa o
fiel cumpridor de ordens do chanceler em assuntos investigativos da
polícia. Também membro do Partido, ele acredita que
sua missão em prol da sociedade é manter a ordem e a
unidade através do trabalho na polícia. Honesto, ele
leva seu trabalho a sério em seus princípios e quando
as sucessivas revelações escusas sobre membros do Partido
são trazidas à tona em suas investigações,
começa a se questionar sobre quais interesses realmente representa.
Por conta da identificação do diferente enquanto perigoso,
atitudes e discursos opressores e coercitivos transcorrem contra as
minorias, como os imigrantes, os muçulmanos e os homossexuais,
ao passo que nota-se a ausência de negros. Para que seja consolidada
certa hegemonia, necessitamos abordar três pontos: a proliferação
do elemento da fé, atrelada à união e à
força; a utilização de aparelho repressivo, materializado
pelos Homens-Dedo para fiscalizar e punir a desobediência até
mesmo de maneira corrupta e pelo toque de recolher amarelo enquanto
elemento de suposta proteção; e um farsante estado de
ordem e paz trocados pelo consentimento silencioso do conjunto da
sociedade.
Em tempos de Bush & Cia, observamos no filme a mesma fórmula
que (costuma) justificar a ascensão dos regimes totalitários.
Países em meio a uma recessão econômica, níveis
elevados de criminalidade, desordem urbana ou então devastada
por uma guerra civil são o prato cheio para a investida de
um grupo, personificado por uma liderança, ora carismática,
ora temida, mas que vem a público prometer que, em troca da
perda da liberdade e direitos civis, tem-se de volta a segurança,
a ordem, a paz e os valores perdidos. O resgate da família
e a temência a Deus são temas recorrentes aos novos tempos.
E qualquer um que venha a protestar por liberdade, será devidamente
removido do convívio social. Não podemos deixar de citar
a fala contida na HQ pelo Chanceler (na HQ, chamado de Líder):
“Eu não ouvirei súplicas por liberdade. Sou surdo
aos apelos por direitos civis. Eles são luxos. Eu não
acredito em luxos. A guerra escorraçou os luxos. A guerra escorraçou
a liberdade” (p.39).

Pareceu-nos importante comentar acerca de diversos destaques ao longo
do filme às mais diversas manifestações artísticas.
Através de referências a filmes e peças teatrais,
da observação de pinturas e esculturas, a música
dos instrumentos de percussão, bem como da encenação
da prisão e da tortura de Evey e da dança realizada
pelos protagonistas às vésperas da ‘revolução
de V’, é levantado o papel do artista, que utiliza mentiras
para contar as verdades e traz à tona a subversão e
as potencialidades da Arte.
Ao transmitir mensagens ratificando a previsão de que ‘a
Inglaterra triunfará’ além das certezas fabricadas—já
que ‘dúvidas mergulharão o país no caos’—os
dominantes revelam suas verdades universais, a fim de veicular ideologicamente
a transmissão do medo, entreter a população e
manter coesa a estrutura social vigente. Conforme citam Engels e Marx
(s/d):
"Os pensamentos da classe dominante são também,
em todas as épocas, os pensamentos dominantes, ou seja, a classe
que tem o poder material dominante numa dada sociedade é também
a potência dominante espiritual. A classe que dispõe
dos meios de produção material dispõe igualmente
dos meios de produção intelectual, de tal modo que o
pensamento daqueles a quem são recusados os meios de produção
intelectual está submetido igualmente à classe dominante.
Os pensamentos dominantes são apenas a expressão ideal
das relações materiais dominantes concebidas sob a forma
de idéias e, portanto, a expressão das relações
que fazem de uma classe a classe dominante; dizendo de outro modo,
são as idéias do seu domínio (s/p).

Apesar
da instigante aliteração utilizada com a letra V em
sua apresentação para Evey e da afirmação
de que não importa quem ele é, mas suas ações,
sua identificação parte do algarismo romano estabelecido
na porta de sua cela em Larkhill, local e ocasião de onde desponta
o elemento catalisador da vingança concretizada posteriormente
contra a cúpula dominante e diretamente envolvida com o caso—a
Voz de Londres, o bispo, a legista, o chanceler e o que a este poderia
substituir.
Nossa intenção é dialogar a partir da temática
central do filme e oferecer subsídios para uma análise
problematizadora da realidade complexa que nos cerca, traçando
paralelos e questionando o método apresentado e a percepção
das relações sociais estabelecidas que são apresentadas
no enredo transcorrido.
Primeiramente, apesar da história situar-se em um futuro não
muito distante2, carece de uma caracterização conjuntural
do modo de produção existente, ou seja, a existência
da propriedade privada dos meios de produção e a liberdade
de compra e venda de força de trabalho enquanto mercadoria,
necessidades básicas para existência e sobrevivência
do sistema capitalista. Em segundo lugar, é notória
a ausência de discussões acerca da divisão social
em classes antagônicas, o que limita a centralidade do filme
enquanto fornecedor de elementos para uma prática revolucionária
na sociedade em que nos localizamos, pois não é mencionada
a organização dos trabalhadores, uma séria análise
das condições objetivas e subjetivas e majoritariamente
é expressa a vingança de um indivíduo para com
o sistema vigente. Pela opção de nos pautarmos a partir
do materialismo histórico, Engels (2004) nos propicia com clareza:
"A concepção materialista da história parte
da tese de que a produção, e com ela a troca de produtos,
é a base de toda ordem social; (...) a distribuição
dos produtos, e juntamente com ela a divisão social dos homens
em classes ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz
e como produz, e pelo modo de trocar os seus produtos. De conformidade
com isso, as causas profundas de todas as transformações
sociais e de todas as revoluções políticas não
devem ser procuradas nas cabeças dos homens nem na idéia
que eles façam da verdade eterna ou da eterna justiça,
mas nas transformações operadas no modo de produção
e de troca; devem ser procuradas não na filosofia, mas na economia
da época de que se trata". (p. 61)
Essa
superestimação do indivíduo pode influenciar
em duas matizes: diretamente, a anarquista, através de práticas
individualistas, terroristas e voluntaristas; metaforicamente, a marxista,
cujos materialismos histórico e dialético nos servem
de instrumentos para a práxis da transformação
efetiva da sociedade. De acordo com Green (1982):
O anarquismo começa sua análise (...) a partir da situação
do indivíduo—desrespeitado, oprimido, massacrado pelo
jugo do poder centralizado da burocracia.
Já o marxismo inicia sua análise da sociedade a partir
de sua divisão em classes conflitantes, exploradores e explorados,
considerando essa divisão a raiz de toda opressão e
a razão pela qual nenhum homem pode ser realmente livre. (p.
19, grifos do autor)
Em
diversos momentos, é enaltecida a primeira pessoa do singular—‘depois
que eu destruir o Parlamento’ ou ‘durante 20 anos busquei
apenas este dia’, sendo atribuídas a V caracterizações
de ‘terrorista psicótico espalhando mensagens de ódio’,
o que recai sobre problemas morais—e faltam conseqüências
responsáveis com o processo empregado, já que inexiste
uma atuação centralizada e organizada de um Partido
revolucionário enquanto vanguarda de uma classe oprimida. Fica-nos
obscuro e omisso o que fazer após a explosão do prédio
e a morte do setor dominante, pois um Estado socialista centralizado—ou
ditadura do proletariado—“é imperativo absoluto
enquanto a luta entre o novo e o velho sistema não estiver
resolvida de modo conclusivo em escala mundial” (idem, p. 86);
além da irresponsabilidade de estimular e levar as massas às
ruas sem nenhuma possibilidade de autodefesa, pois elas poderiam ter
sido esmagadas pelo exército, que recua pela falta de comando.
Cabe uma metáfora de nossa parte com algumas contribuições
advindas do marxismo, caso identifiquemos o indivíduo V enquanto
a figura de um Partido, já que o mesmo afirma haver por trás
da máscara um rosto que a ele não pertence, que sob
a mesma há mais do que carne; há idéias que são
à prova de balas. Como de nada valem idéias sem homens
que as coloquem em ação, poderíamos extrair daí
o elemento subjetivo para a transformação social, amparado
pela resposta de Evey ao detetive após questionar quem era
V: ‘Era Edmond Dantes, meu pai, minha mãe, meu irmão,
meu amigo, eu, você, todos nós’ e que teria clandestinamente
organizado a Galeria Sombria e preparado a distribuição
das máscaras para a população e o trem com explosivos
para derrubada do Parlamento.
Apesar da metáfora proposta, são perceptíveis
os desvios de método para correlação com a revolução
socialista, alguns destes advindos de teorias anarquistas. Questionado
por Evey se a explosão do Parlamento faria o país melhor,
a resposta é que apenas há oportunidades, não
certezas; ‘o prédio é apenas um símbolo,
tal como o ato de sua destruição e o poder dos símbolos
emana do povo’. Porém, “lançar uma bomba
em um banco, incendiar um edifício (...) não é
conduzir a revolução, mas brincar com ela (...) Não
dá nascimento à consciência de classe” (ibidem,
p. 108). Além do apontamento de que o povo precisa de esperança
mais do que de um prédio, uma outra situação
importante é quando deixa a decisão de puxar a alavanca
às pessoas que construirão o novo, já que ele
ajudou a construir o atual mundo. Também é comentada
a importância da espontaneidade das massas para o sucesso de
um movimento revolucionário, ampliando a discussão,
pois “(...) sem uma teoria e liderança revolucionárias,
a espontaneidade das massas é insuficiente para substituir
o velho por algo fundamentalmente novo”. (p. 54).
A despeito das condições objetivas e subjetivas para
o marxismo, Lênin menciona que a “revolução
é impossível sem uma situação revolucionária,
mas nem toda situação revolucionária tende à
revolução” (p.216-7), apresentando três
índices concomitantes para essa situação revolucionária,
a saber, a crise das cúpulas, o agravamento extremo da miséria
e da angústia das classes oprimidas e a atividade independente
das massas. Junto a estas mudanças objetivas, é necessária
uma mudança subjetiva, ou seja, a capacidade da classe revolucionária
conduzir ações revolucionárias de massas a fim
de destruir completa ou parcialmente o “velho Governo, que não
cairá jamais, mesmo em épocas de crises, se não
for forçado a sucumbir”.
Por fim, reproduzimos o questionamento do Inspetor Finch. Às
vésperas do “Grande Dia”, imerso em seus pensamentos,
como se perguntasse a V e a si mesmo: “Está pronto? Nós
estamos prontos?”. Ocorrerá um 5 de novembro no século
XXI, com data e local tão bem marcados? Ou será uma
revolução absolutamente espontânea, surgida das
massas? Ou sequer haverá uma revolução? Vivamos
e construamos esses caminhos!
REFERÊNCIAS
ENGELS,
Friedrich, MARX, Karl. A ideologia alemã. Disponível
em: http://www.dominiopublico.gov.br, Acesso em: 3 nov. 2007.
ENGELS,
Friedrich. Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico.
São Paulo: José Luiz e Rosa Sundermann, 2004.
GREEN,
Gilbert. Anarquismo ou Marxismo: uma opção política.
Rio de Janeiro: Achiamé, 1982.
LENIN,
V. I. La Faillitte de la Deuxième Internationale. Oeauvres.
V. XXI, p. 216-217. In: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO POPULAR.
Apostila História das Revoluções e do Pensamento
Marxista, São Paulo.
MOORE,
Alan. V de Vingança. Edição Especial. Barueri:
Panini Comics, 2006.
Bruno
Gawryszewski
Bacharel em Educação Física pela UFRJ
Mestrando em Educação pela UFRJ
Gabriel
Rodrigues Daumas Marques
Licenciado em Educação Física pela UFRJ
Graduando de Pedagogia pela UFRJ
|
|