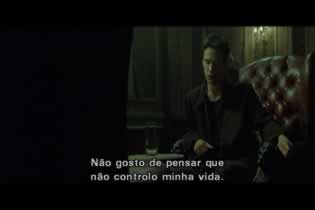|
|
“Matrix”
de Warchowski Brothers
(1999)
Ação
de Quem Para Quem?
- Os Simulacros e Suas Implicações na Discursividade
de Matrix
de
Thien Spinelli Ferraz
1.
Possíveis faces da narrativa
Os
filmes dos irmãos Andy e Larry Wachowski que compõe
a trilogia de Matrix (EUA, 1999) Matrix Reloaded
(2001) e Matrix Revolution (2003)), são tidos por
muitas perspectivas analíticas como o grande exemplo das conquistas
da técnica cinematográfica contemporânea. Além
de uma elaborada utilização destas técnicas digitais
na construção de efeitos especiais interessantes, acreditamos
que os filmes podem conter indicações de uma apreensão
crítica do mundo sócio-histórico moderno, que
nos dias de hoje se mostra ainda mais transformado pelo exacerbamento
da técnica em detrimento de tudo aquilo que, até então,
poderia vir a ser considerado humano, ético e moral.
O enredo nos apresenta um trabalhador desenvolvido em nossa modernidade
tecnocrática, Thomas Anderson, um jovem analista de computadores
e sistemas de informação que atua como hacker ou cracker
– alguém que detém o conhecimento da linguagem
informática e opera com seus códigos quer para finalidades
morais consideradas positivas ou negativas. Ocorre que começam
a surgir mensagens enigmáticas (como telefonemas misteriosos,
alusões a coelhos brancos e frases em seu computador) que em
certo momento culminam com o aparecimento de duas pessoas (Morpheus
e Trinity) que o incitam a mergulhar por completo em uma outra dimensão
da realidade: a Matrix.
Para tal experimentação é necessário o
poder da escolha quanto a ingestão de uma das duas pílulas
que Morpheus lhe ofereçe: entre a vermelha e a azul sua decisão
é pela segunda, a partir de onde tem início sua total
imersão na complexa fluidez deste outro universo. A tarefa
legada ao jovem Neo (apelido utilizado por Anderson na internet) é
a de salvar o mundo real – por meio da Matrix, que é
também uma de suas faces criadas virtualmente – de um
levante de dominação e destruição iniciado
pelos ‘vírus cibernéticos’ liderados pelo
Agente Smith. Para concretizar seu destino e sobreviver a este universo
simulado, Neo tem o apoio de outros conhecedores desta linguagem,
como seu mentor Morpheus, o operador de sua entrada na Matrix, Tank,
e sua companheira de batalhas Trinity.
A existência no interior da Matrix é regulada por meio
de uma “central informatizada” localizada em um espécie
de nave entre as duas facetas do real, a Nabucodonosor. Todo conhecimento
utilizado na Matrix é adquirido com a implementação
de programas (softwars) que fornecem a seus agentes, em um grau muito
mais elevado, as qualidades pertinentes à diversas atividades
humanas. O espaço concreto das ações destes indivíduos
no interior da Matrix se dá com a conexão de sensores
em suas cabeças e corpos que lhes permitem certa autonomia
acional nesta outra dimensão, desde que para isto não
haja o corte do vínculo informacional mantido com a Nabucodonosor.

Diante do épico dever de salvar a totalidade das dimensões
da realidade, Neo e seu grupo tem um nítido principio moral
da preservação do Bem (associado à humanidade)
contra a insurreição do Mal (associado aos ‘vírus’
da Matrix). Para a realização deste objetivo, os humanos
selecionados para operar a Matrix são aqueles que melhor intensificaram
suas capacidades de conhecimento e dominação da tecnologia.
Sendo que o alto grau de aperfeiçoamento das máquinas
vem a refletir as irracionalidades humanas em relação
à Natureza, fazendo com que a compulsão pelo controle
sobre as incertezas de nosso mundo e existência, acabe por se
mostrar disposta à aplicação do mesmo golpe contra
seus criadores.
Nesta perspectiva, a face nociva dos instrumentos técnicos
da sociedade são representadas nas “máquinas rebeldes”
como a negação imanente (autonomizada) às características
destas criações sociais. O que significa dizer que a
luta ciberespacial e a missão salvadora legada a Neo, funcionam
como um meio de, compartilhando de mesmas codificações
(já que o confronto se processa no ‘interior’ da
Matrix), fazer com que os indivíduos resgatem uma positividade
ética subjacente às tecnologias de atuação
sobre a realidade
2.
Veracidades do falso : os simulacros em Matrix
Parece-nos
que a questão central da qual o filme parte suas argumentações,
dá-se em relação às transformações
das condições referenciais necessárias ao discernimento
individual quanto às propriedades daquilo que somos induzidos
a afirmar como sendo a ‘realidade’ (um corpo, um lugar,
uma atividade, uma história etc.) do mundo sensível
que percebemos e compreendemos. Isto porque em uma sociedade onde
o consumo vem cada vez mais saturado de mensagens simbólicas
transmitidas por imagens, os processos de reconhecimento desta realidade
não integralmente “ficcional”, são confundidos
pela identificação com aquilo que é um produto
do “simulacro” – uma simulação que
reconstrói artificialmente as características do que
convencionamos assumir como “real”.
A noção de simulacro também é discutida
na crítica cultural contemporânea como sendo um processo
de exacerbada artificialização das características
que reconhecemos como reais em discursos culturais de superficialidade
crítica ética e estética, como nos aponta o filósofo
americano Fredric Jameson (2002). Ele constrói suas reflexões
sobre a estética cultural do pós-modernismo com base
em outros processos identificados como pertinentes a um novo modo
de disposição de forças sócio-culturais
no interior do capitalismo global. Neste texto, optamos por elucidar
as contribuições críticas de Jameson acerca da
estética contemporânea dando maior atenção
às suas reflexões sobre o conceito e implicação
social dos simulacros.
Ao discutir a questão dos simulacros, Jameson retoma as argumentações
trabalhadas anteriormente pelo filósofo françês
Jean Baudrillard (1998), sobre os mecanismos de sustentação
e validação da ‘hiper-realidade’ construída
pelos simulacros sociais em nossa contemporaneidade. Para este os
simulacros seriam processos de manipulação sígnica
dos eventos do mundo social no sentido de uma artificialização
consciente dos significados anteriormente atribuídos a eles.
É este simulacro – uma cópia sem original –
o que o mundo virtual da Matrix parece constantemente querer simbolizar.
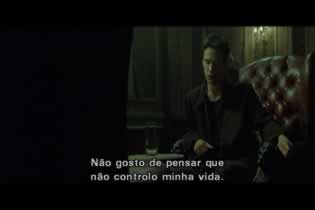
Baudrillard aponta que a maioria das simulações nos
dias de hoje foram convertidas para simulacros que não mais
representam uma entidade real, mas sim formas significantes que de
modo auto referencial definem sua própria realidade, a ‘hiper-realidade’.
O que vemos não é mais uma imagem, mas algo mais real
que o seu original, algo que não tem mais nenhuma relevância
para sua contraparte real, assim que tenha sido simulado.
Os sentidos de falsidade e irrealidade produzidos pelo simulacro,
encontram a validação de suas existências pela
dominância de quaisquer outros balisamentos referenciais no
discernimento sobre o que não pertença à ordem
de seus “jogos de simulação”. No filme,
vemos este dilema da relação humana com a “hiper-realidade”
da Matrix expresso em inúmeras falas de personagens que questionam
a veracidade da realidade e de suas significações no
imenso ‘deserto do real’ (Morpheus) que ela é.
A aceitação do falso, de uma representação
que não possui um original mas condiciona efetivamente nossas
ações no mundo, certamente deve ser questionada com
profundidade, como comenta Jameson, sem que para isto, não
ocorra a própria extrapolação da análise
em não admitir a convencionalidade de relações
de uma “realidade” que orienta nossos questionamentos
morais, religiosos, políticos e estéticos por meio da
linguagem: a própria cultura. Este é um problema que
a crítica cultural pode vir a sugerir quando propõe
enfoques radicais em suas reflexões, por vezes desvalorizando
aspectos que talvez influenciaram o objeto do discurso crítico:
a amplitude da análise deve procurar reconhecer que o que se
“deixa de fora” da observação tem igual
valor ao que dela se “apreende”.
Neste sentido, considerando especialmente as contribuições
da análise de Baudrillard, procuramos perceber as formas pelas
quais o filme responde a problemáticas éticas de nossa
realidade que, em última instância, é ou foi um
um ponto comum necessário à criação da
Matrix. Isto porque o filme nos apresenta um ‘lugar de segurança’
em meio ao caos de significados simulados que a realidade da Matrix
produz. A Nabucodonosor é onde os indivíduos estão,
ao fim das contas, em uma terceira dimensão, entre a do real
e a da Matrix, já que todos precisam manter seu elo vital na
conexão com a ‘nave’ – portanto existindo,
e não agindo em uma nulidade niilista absoluta. Exceto Neo,
que irá se mostrar o poderoso ‘predestinado’ a
salvar o mundo das forças rebeldes que partem da Matrix.
Em razão deste fato de haver um vínculo necessário
e comum a todos que lutam na Matrix, e de Neo ser o “super-homem”
capaz de transcender as limitações dos universos que
habita, compreendemos que a Matrix em sua totalidade narrativa não
pode ser considerada um simulacro. Pois, na medida em que há
a coexistência de várias dimensões da realidade
que somente podem ser superadas pela mística de um iluminado,
os simulacros nao podem ser transgredidos, ficando os Homens que sobraram
no planeta dependentes da manipulação de conhecimento
por parte dos “guerreiros cibernéticos” da Matrix.
Podemos até enxergar a Matrix como uma dimensão onde
os simulacros são “irreversíveis”, não
dependendo mais da vontade humana (de onde supostamente partiriam
as ações individuais) para sua existência. O poder
da criação sobre o mundo estaria agora reformulado,
dependendo não mais da inteligência e energia humanas,
mas sim da aleatoridade de transformações de um tempo-espaço
vinculado à máquinas orientadas por seus próprios
jogos internos de simulação.
Ainda sim, no interior de sua discursividade cinematográfica,
consideramos que Matrix busca legitimar uma outra perspectiva sobre
os simulacros e sua relação com a realidade. Temos o
desenvolvimento da narrativa dialogando entre estas três dimensões
acionais que procuram se efetivar tanto pelo prisma da afinidade/continuidade,
como pelo da negação/desconstrução das
caracteristicas dos elementos que as estruturam. Ou seja, a Matrix
não é uma dimensão dissociada da realidade, um
conglomerado de significados construídos artificialmente como
o mais perfeito simulacro porém falso, ilusório; mas
sim uma perspectiva fragmentária da ‘realidade’
que (por meio do conhecimento técnico) faz com que os indivíduos
dialoguem simultaneamente com valores de seu próprio universo
simbólico-virtual de origem – a sociedade que inicialmente
produziu as condições materiais para sua existência.
3.
Em busca de correspondências éticas e estéticas
Discutindo
as relações entre o conceito de simulacro e a discursividade
de Matrix, validamos a necessidade de interpretarmos a elaboração
sígnea contida nos filmes enquanto um meio de representação
de inúmeras críticas às cosmovisões padronizadamente
preservadas pelas sociedades capitalistas contemporâneas. Assim,
ao procurarmos uma compreensão da dimensão estética
do primeiro filme, vemos que os mecanismos narrativos utilizados por
sua discursividade mantém uma relação indissociável
com suas temáticas, posto que estas, sofrendo uma tradução
por aqueles, buscam ratificar cinematograficamente (com profundidades,
movimentos, enquadramentos, planos, efeitos de luzes, cores, palavras
e sons) o sentido de realidade atribuído às imagens
enxergadas na tela.
Com efeito, acreditamos haver uma inovação na articulação
ética / estética elaborada pelo filme na medida em que,
com o sustento de técnicas digitais na modelagem das imagens,
o enredo nos é projetado em uma dinâmica de enunciação
sígnea extremamente rápida que, pela verossimilhança
mantida com os elementos abordados por sua lógica interna,
nos oferecem uma possibilidade de identificação com
os referenciais de seu discurso. Tal filme não poderia ser
realizado sem a utilização destas técnicas já
que suas temáticas (éticas) não manteriam uma
correspondência com suas representações (estéticas),
impossibilitando a identificação dos espectadores com
a narrativa proposta.
Embora a trilogia que estruture o discurso feito por Matrix, seja
densa e aberta às mais díspares interpretações,
entendemos que é possível traçar um eixo temático
central pelo qual a narrativa constrói suas enunciações.
Assim, com base na discussão mantida com alguns conceitos utilizados
pela crítica cultural considerada pós-moderna, compreendemos
que o primeiro filme – ainda que envolvido pela expectativa
de seus efeitos especiais – nos aponta diversas perspectivas
sobre as transformações sociais engendradas em nossa
contemporaneidade.
Ao passo em que, de nossa parte, fica a pergunta se é mesmo
necessário um imenso investimento financeiro, um espantoso
lucro com bilheteria e direitos de imagem e a derivação
em jogos, souvenirs e ‘modismos’ para se transmitir críticas
que pretendam não soar como distração passageira.
Vindo por sua vez acompanhada da preocupação com a tendência
de um futuro (presente?) onde a reconfiguração das valorações
assumidas pelos sujeitos serão advindas de alterações
no ritmo de apreensão dos fatos de uma sociedade tecnocrática,
informacional e disposta a prosseguir sua (i)reversibilidade das características
da realidade através da incessável produção
de efêmeros simulacros.
Referências Bibliográficas
•
BAUDRILLARD, J. Simulacros e simulação. São
Paulo: Ed. Relógio D’agua:1991.
• JAMESON, F. Pós-modernismo: a lógica cultural
do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 2000.
Referências
Filmográficas
•
Matrix (EUA, 1999) – Andy & Larry Wachowski.
• Matrix Reloaded (EUA, 2001) – Idem.
• Matrix Revolution (EUA, 2003) – Idem.
Thien
Spinelli Ferraz
é graduando em Ciências Sociais na UNESP
(2005)
|
|