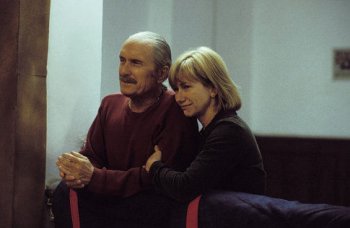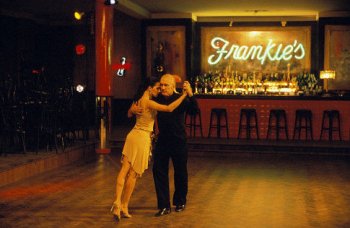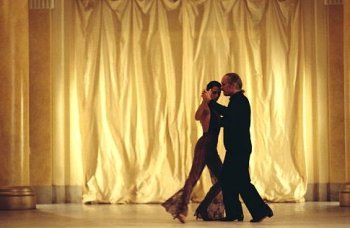|
|
“O
Tango e o Assassino” de Robert Duvall
(1981)

Crime
e Punição
No
filme O Tango e o Assassino, o autor do roteiro Robert Duvall,
também diretor e ator principal, foge dos estereótipos
do filme de "gangster" e nos apresenta o assassino de aluguel
da de¬linquência contemporânea. O personagem principal
é um cidadão comum, morador de uma comunidade suburbana
de cidade grande, no caso, Nova York, onde mora com simplicidade e
tem fortes laços sociais. Fraterno e alegre, convive de modo
camarada com todos, inclusive com o policial do bairro, tratando-se
um ao outro pelo primeiro nome. Sem estar casado, pois a vida pregressa
não lhe permitira, tem uma família tardia e é
apaixonado pela filha adotiva de dez anos. Nem rico nem miserável,
sua atividade parece não ser objeto de curiosidade de conhecidos
e vizinhos, embora presumida pelos laços antigos que mantém
com um membro ativo da máfia, dono de um bar e salão
de danças frequentado por homens, mulheres e crianças
do bairro. Como todo homem simples, tem seus gostos: o seu é
a dança de salão. Enfim, um homem socialmente incluído.
Mais da metade da história de O Tango e o Assassino
se passa em Buenos Aires para onde Edward, o personagem de Duvall,
vai com a missão de matar um velho general aposentado que servira
à ditadura militar e à repressão argentina. Fica
claro que a encomenda da morte fora feita a um dos braços internacionais
da Máfia americana, mas não fica claro quais organizações
estão por traz da encomenda, aparecendo "flash" que
sugerem o envolvimento de serviços secretos do governo (ou
governos?), cuja ordem era "apagar" não só
o general, mas todos os elos da operação, logo que ela
findasse, entre eles, o interlocutor mafioso local e o próprio
assassino. Uma queima literal de arquivos, que não se completa
de todo, pois o último sobrevive, graças à sua
competência técnica profissional.
A "operação" que deveria ser executada em
três dias, precisou de quinze, porque o general escalado para
morrer sofrera, literalmente, uma queda do cavalo que montava em fazenda
de sua propriedade. As circunstâncias — sempre elas! -
fizeram com que o personagem de Duvall, amante da dança de
salão, a contragosto, tivesse mais tempo para assenhorear-se
melhor das condições materiais de sua missão,
antecipar-se às armadilhas e encontrar uma nova paixão,
o tango. O que seria um contratempo para o programa familiar do assassino,
que era voltar a tempo de estar presente no aniversário da
filha, acabou tendo dupla vantagem: a de conhecer o tango de salão
e o de salvar a própria vida.
Ao final, ele retorna para o seu país, sua comunidade, seus
amigos e sua família, com um presente para a filha amada: um
par de botas argentinas, não militar, mas de equitação.
Uma parábola? Certamente e sobre muitas coisas.
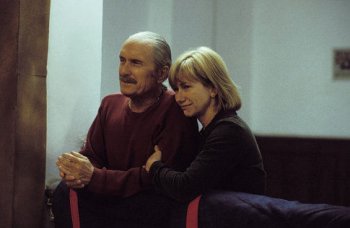
Edward, o assassino, de origem anglo-saxônica, é um quadro
da "Cosa Nostra", o braço mais presente no território
americano da Máfia que hoje, mais que antes, se envolve em
grandes e pequenos empreendimentos lícitos e ilícitos.
No filme, fica mais ou menos explícito seu envolvimento em
pequenos negócios, como hotéis, bares, salões
de dança, de ginástica, de cultura física e de
beleza, ete, onde circulam os personagens do filme, tanto cm Nova
York, como em Buenos Aires.
A internacionalização das atividades criminosas e a
participação de órgãos do Estado são
mostradas na articulação de um crime, cuja teia é
tecida nos dois continentes e cobre os dois países em foco.
As organi¬zações mandantes têm o cuidado em
não ferir suscetibilidades nacio¬nais, ainda que às
custas da impunidade de múltiplos assassinatos.
A tese é clara: afetos, desafetos, paixão e compaixão
são de foro íntimo, privado, e não devem prevalecer
sobre os negócios, mesmo que esses impliquem em assassínios
premeditados; o domínio é das políticas de interesses
materiais das organizações, empresas e do Estado. Aí,
qualquer que seja a vítima e o autor, o crime, ainda que envolva
violência, perde o caráter intersubjetivo e de vindita
e ganha impessoalidade; é uma encomenda a ser levada a cabo
por quem tem capacidade técnica para satisfazé-la; significa
custos para os demandantes e risco de vida para os demandados, sejam
intermediários ou autores diretos.
Edward não é um perverso. Não tem prazer em matar.
O que faz é de ofício e ele se orgulha de exercê-lo
bem. É um matador diferenciado, racional, mas não um
homem frio, muito menos um marginalizado. Ao contrário, é
um homem inserido socialmente na comunidade e tem uma família
estável; é um instrumento ímpar da organização
à qual pertence, por ser altamente profissional e confiável,
"dos melhores", como diz seu empreiteiro mafioso, muito
útil para os negócios ilícitos que envolvam execuções
e que hoje, mais que antes, são comuns e têm como mentores
grupos familiares, empresas, corporações e o Estado
contemporâneo que, com pouco ou nenhum escrúpulo, manipulam
mandantes, intermediários e executores de crimes de vários
matizes.

O filme é um discurso sobre a atual criminalidade. Ainda clandestina,
ela tende a deixar o subterrâneo e passar à luz do sol,
diluindo-se no cotidiano da vida das pessoas comuns. Não é
um discurso cínico, mas cético, sobre o presente e futuro
da sociedade global. Afinal, o simpático personagem de Duvall,
que gosta dos amigos, da família e de tango, é um assassino
de profissão.
O tango, música e dança a dois, que percorre todo o
tempo latino do filme, parece redimir o personagem de Duvall e dar-lhe
feição humana, mas nunca a de herói ou justiceiro,
papel que ele recusa a si e aos outros. Ele é apenas um homem
que tem uma missão profissional a cumprir, sem raiva nem compaixão,
tal qual faziam o carrasco dos soberanos e senhores da Idade Média
e o operador da guilhotina dos governos da revolução
de 1789, assim como os soldados dos pelotões de fuzilamento
e os agentes penitenciários do Estado Moderno, que acionam
a chave da cadeira elétrica ou injetam drogas letais. Em qualquer
dessas épocas e circunstâncias, o Poder se dá
ao direito de matar; e quem mata são pessoas comuns, que o
faz por profissão e dever. Com quem estava o poder na Idade
Média? Com quem passou a estar após a revolução
industrial e burguesa que instaurou o Estado Moderno? Com quem está
hoje?
Edward não entende muito dessas coisas e não tem interesse
em conhecê-las; é apenas um matador profissional que
age oculto. Participara de outros episódios parecidos em países
da América Latina, envolvendo órgãos de segurança
e Máfia. Pensara que a nova empreitada era de ordem familiar,
um mero acerto de contas. Não era só isso. O que era
e quase lhe encerra a vida e a carreira, ficou sem saber.
Apesar de precisar matar mais pessoas que imaginara, voltou satisfeito
pelo dever cumprido e revigorado pelo tango que, melodramaticamente,
resume o encontro de um país consigo mesmo. Como diz a simpática
e falante senhora argentina: "Tango é tudo: é amor,
desejo, ternura e ódio; quero morrer dançando tango".
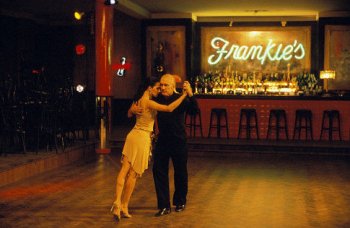
Em O Tango e o Assassino, os quatro assassinatos cometidos,
todos a sangue frio, três dos quais perpetrados por Edward,
ficaram impunes, como tantos outros que ele praticara. Afinal, a quem
interessa punir um simples carrasco? Mas qual a explicação
dos seus atos clandestinos a par de uma vida normal na sua comunidade?
Qual o sentido das execuções no varejo e no atacado
da criminalidade contemporânea enquanto fenómeno social?
J. Maillard (em “Crimes e Leis”) magistrado francês,
diz que o crime deixou a marginalidade, onde fora colocado nos séculos
precedentes e está se integrando à sociedade; ainda
na ilegalidade, o grande crime não é visível,
mas sua banalização leva a supor que está em
vias de institucionalização. Como ainda é ilegal
e pouco aparente, o que é crime tornou-se imprevisível
e alheio à penalidade tradicional, não se identificando
com nada, nem com um ato, nem com uma vontade, nem com um comportamento,
nem com uma categoria social. Ou seja, a criminalidade contemporânea
maior é cercada de anomias. A delinquência preponderante
nos dias de hoje, segundo o autor, não como fato isolado, mas
como fenómeno social, carece de elementos objetivos, pois sua
causalidade é exterior ao ato reconhecível.
O filme de Duvall é didático: os quatro assassinatos,
crimes explícitos e sujeitos à condenação;
têm elementos objetivos, causais e imediatos, como são
as balas e as vítimas. Os espectadores sabem dessas autorias,
porque o filme mostra que três foram cometidos por Edward, a
mando da Máfia, e um quarto, pela polícia da Argentina,
após tortura. A teia causal permanece, porém, oculta.
O que fica bastante evidente é o desembaraço e a impunidade
com que agem as organizações criminosas dentro do aparelho
do Estado e da sociedade globalizada.

Diz Maillard: "Enquanto o crime (grande crime) se torna invisível
e a criminalidade sutil, o criminoso (o grande criminoso) passa da
marginalidade à racionalidade" (...). O criminoso envolvido
em atividades ilícitas, tornou-se instrumento desta racionalidade
oculta e protegida. Cada vez mais, ele pertence à sociedade
comum, pela qual a grande criminalidade mobiliza, energicamente, conhecimen¬tos
e meios técnicos avançados e recursos financeiros e
jurídicos somente disponíveis por grandes organizações
envolvidas.
Dando sequência ao seu raciocínio, esse autor assinala
que a Criminologia se revela incapaz de discernir o criminoso contemporâneo
porque continua presa à concepção antiga de que
o crime identifica seu autor. Hoje, porém, o autor não
tem como motivação o crime em si, mas o seu resultado.
Como fenómeno social, o crime despe-se de emoção,
de ser ato de um impulso imediato, de vingança, desforra ou
necessidade da pessoa, para ser ato da razão.
O homem racional que a sociedade moderna concebia como figura oposta
ao delinquente é, justamente, o delinquente de hoje, como os
mandantes dos assassinatos de O Tango e o Assassino, que
Edward simboliza pela perfeição patética com
que os executa, sem raiva, paixão ou compaixão.
Maillard, um estudioso da criminalidade na França, defende
a tese de que, à criminalidade anterior, está se sobrepondo
uma ou¬tra que esgarça o tecido social e preenche seus
interstícios, se apos¬sando das instituições
formais e informais da administração privada e, agora,
da administração pública. Diferente da criminalidade
antiga, posta à margem da sociedade "normal", a atual
transfigurou-se e está transfigurando todo o corpo social e
se normaliza, tangida pela globalização e pela supremacia
dos princípios do mercado.
Ele admite que a criminalidade, ao ser tirada do submundo e colocada
no mundo "normal", ainda é uma realidade pouco conhecida,
mesmo na França, que tem uma tradição de registro
oficial de crimes desde 1825, cujas fontes são os arquivos
policiais e os processos na justiça criminal. Mas esta é
a criminalidade aparente, que está longe de ser a real que,
por diferentes motivos, não chega ao conhecimento do Estado.
Os crimes contra o fisco, as fraudes comerciais e bancárias,
os cheques sem fundo, as inobservâncias das leis e normas de
proteção ao trabalho e ao meio ambiente, o contrabando,
etc, dificilmente chegam à polícia ou à Justiça.
Tomando como base o ano de 1950 e findando em 1992, Maillard mostra,
em gráfico, a evolução da taxa de criminalidade
(número de crimes por mil habitantes) por furtos, atentados
à propriedade e à pessoa. Os atentados à pessoa
aparecem com taxa muito baixa e praticamente estável por todo
o período, enquanto as taxas de furto e principalmente dos
atentados à propriedade subiram mais que todas, sobretudo depois
de 1985.
Apesar da França ter uma população estável,
o número de crimes neste país saltou de 575 mil em 1950
para 3 milhões e 875 mil em 1992. Esses são dados da
criminalidade aparente. A oculta e a não revelada permanecem
desconhecidas. Apesar da sub-notificação e da imprecisão,
para as quais o autor chama atenção, vale destacar nessas
estatísticas a queda dos crimes e delitos contra a pessoa (homicídios
e atos de violência e abusos sexuais) que passa de 10% para
4%, enquanto o número de crimes contra a propriedade explode,
passando de 187 mil (roubos e receptações) para 2 mi¬lhões
e 600 mil (1992). Somente o roubo de automóveis cresceu no
período 148 vezes.
Ele aponta para o aparecimento na França e em outros países
europeus e fora da Europa, a partir dos anos 1970, de novas formas
de delitos ligados ao progresso tecnológico, como as fraudes
dos mei¬os de pagamento, clonagem e falsificação
de cartões, pirataria informatizada para desviar depósitos
bancários, manipulações nas bolsas de valores
e financeiras, falsificações de marcas, espionagem industrial,
pirataria e contrabando aéreos, terrestres e por mar, tráficos
de seres humanos e de órgãos, prostituição
internacionalizada, trabalho clandestino e, sobretudo, o tráfico
de drogas lícitas e ilícitas, em particular da cocaína,
heroína e maconha, que tem por trás organi¬zações
poderosas legais e clandestinas, entre elas as Máfias. E comenta:
"O assassínio cometido por uma organização
mafwsa é sempre um assassínio e, se o direito nacional
(como é o caso em França) não previu a incriminação
específica dos crimes mafiosos, o instrumento estatístico
não conhecerá sequer sua existência".
Ou seja, o assassinato mafioso cai na vala dos homicídios comuns.
Ele acrescenta que uma das razões da obscuridade dos delitos,
principalmente os de ordem económica, é o interesse
das vítimas em mante-los ocultos, sejam elas pessoas físicas
ou jurídicas. Muitas não os revelam para poder transacionar
com seus mentores e fazer arranjos privados. Assim, acontece com os
interesses envolvendo montantes formidáveis do grande capital
e do capital financeiro, com seus paraísos fiscais e sigilos
bancários, visando a "lavagem" ou "branqueamento"
do dinheiro ilícito provenien¬te de negócios escusos,
roubos, desvio de fundos públicos, tráfico de influência
e de drogas.
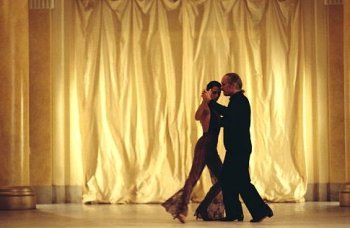
Justificando a defesa que faz do fim do programa antiãrogas
dos EUA, Milton Freidmau eira estudo recente da Universida¬de
de Harvard, segundo o qual os EUA economizariam 14 bilhões
de dólares por ano se a maconha fosse legalizada. Desse montante,
quase oito bilhões são destinados ao policiamento e
seis a impostos (FSP, 26.06.05). Os negócios ilegais da Máfia
americana (a Cosa Nostra), com tráfico de. drogas, empréstímos,
furtos, proxetismo e jogo clandestino teriam atingido 51 bilhões
de dólares em 1986, segundo o Instituto americano Whanon. A
economia subterrânea do conjunto de tráficos criminosos
corresponderia a 10% dos PIB dos países do globo.
Segundo Maillard, esses sistemas mafiosos preenchem uma função
de mediação entre o poder político e um grupo
social seleto e minoritário, que têm em comum serem produtos
de uma sociedade que se segmentou, à qual servem para, precisamente,
dissimular ou superar esta fragmentação. Traduz a incapacidade
do Estado con¬temporâneo de organizar a existência
e necessidades das populações ou, simplesmente, faz
por ignorá-las; incapacidade e indiferença que funcionam
como se o Estado delegasse funções suas às organizações
criminosas que assim ganham legitimidade pelos serviços e assistência
social que prestam às comunidades e, também, aos grupos
que emergem para servi-las.
Tratar-se-ia de um processo que corre paralelo à reestruturaçâo
produtiva e do trabalho dos últimos quarenta anos e vem transformando
as relações sociais, económicas, políticas
e geo-estratégicas, a ponto de caber a afirmação
que a economia legal e a ilegal são hoje indissociáveis.
Se esta afirmação for verdadeira, será difícil
compreender o mundo atual se a economia do crime e a criminalidade
forem desconsideradas. Uma criminalidade irreprimível, tanto
quanto o é o mercado do crime, imbricados que estão
na vida civil comum e no mercado legal.
Hoje, somente a delinquência de rua ou doméstica, delinquência
menor, praticada pelos pobres, é reprimida. São os furtos
de supermercados e lojas, furtos para uso de automóveis, furtos
de coisas de dentro dos automóveis, assaltos no trânsito,
arrombamentos, se¬questros relâmpagos para saque em caixas
eletrônicos, consumo, tráfico e venda de drogas em "pontos".
Uma delinquência, como se percebe, pequena, instável,
quase solitária, periférica e de alto risco. Seus autores,
invariavelmente jovens e pobres, acabam na cadeia ou no necrotério.
Não é o caso de um segundo tipo de delinquência
mais organizada, protegida, coletivizada, praticada em um meio social
mais fechado, privativo aos próprios membros do gru¬po,
que leva ao enriquecimento de alguns por tráfico de influência
e de drogas e por outras atividades ilícitas. Uma delinquência
de baixo risco, de transição, típica da classe
média.
O terceiro tipo é a delinquência financeira, a chamada
delinquência dos "colarinhos brancos" que é
mais organizada, seleta e de maior vulto. Entre seus au¬tores
estão donos e diretores de empresas, administradores públicos
e políticos corruptos instalados de forma a cometê-la
com impunidade.
A tipologia dos crimes e dos criminosos de Maillard corresponde ao
nível social dos seus agentes: os delinquentes pobres, da classe
média e da alta burguesia financeira, empresarial e seus representantes
no aparelho do Estado: os políticos e administradores públicos
corruptos.
O que mais preocupa Maillard não é a diversidade dos
crimes e sua expansão, mas a amplitude e a verticalidade, antes
inexistentes, das atividades criminosas na sociedade, que o Estado
pouco sabe e, menos ainda, faz, provocando um clima de insegurança,
sensação de impunidade e crise do Judiciário.
Ele explicita suas preocupações com números:
Na França, em 1975, o judiciário condenou 58% de autores
de crimes. Em 1992, apenas 33%. E indaga: se o número de condenações
caiu, por que a superlotação dos presídios na
França e nos demais países da União Europeia?
E responde: porque, em que pese a adoção, há
um bom tempo, da punição sem reclusão, o Judiciário
está encarcerando mais e mais encarcera, uma vez que o número
de delitos mantém seu ímpeto de crescimento, principalmen¬te
nos últimos anos da década de 80 e na década
seguinte.
Maillard interpreta a explosão da demanda do Judiciário
e a superlotação dos presídios, como um fenómeno
global determinado pela falência do paradigma da punição
utilitária, que tem por base o contrato social. Um contrato
social significa a existência de um corpo de leis que estabelece
o que o indivíduo pode ou não pode fazer na sociedade,
leis às quais todos estariam igualmente sujeitos. Pune-se o
desobediente porque ele fere o contrato e prejudica os outros. Esta
punição se dá segundo a gravidade do delito,
presumindo-se a utilidade da pena para corrigir o infrator em beneficio
da sociedade. O infrator tem consciência do que fez e sabe ter
que assumir as consequências da infração cometida.
O delito é, portanto, previsível pela lei e também
para quem o pratica. Assim, segundo a doutrina utilitarista, para
o indivíduo, existem as leis e normas do Direito Civil, para
o cidadão, as leis e normas do Direito Público, para
o criminoso, as leis e normas do Direito Penal.
Tais princípios de filosofia do Direito, prevalentes a partir
de meados do século XVIII, foram consolidados no curso da revolução
burguesa, atravessando seus ciclos de desenvolvimento, crises, as
mudanças da sociedade e consolidação do Estado
Moderno. A Justiça de antes, pautada no sagrado e no poder
do soberano, cedeu lugar à Justiça regrada pelos homens.
Com isto, o crime humanizou-se, deixou de ser um mal indistinto, julgado
ao acaso, para ser considerado um procedimento individual incorreto,
contrário à solidariedade que constitui o objeto do
contrato social. E aí que o Direito Penal adquire a função
de preservar o bem público, através da graduação
da pena. É a partir desses conceitos, inspirados em Cesare
Beccaria, entre outros filósofos, que nasce a moderna Criminologia.
Esta Criminologia a qual nos referimos, procura compreender o fenómeno
criminoso e agir sobre ele de modo profilático, considerando-o
um fenómeno anormal, portanto, extrínseco e à
margem da sociedade normal, como são, também, o vício
e a pobreza. A sociedade liberal, burguesa e capitalista não
se resigna com o crime: toma-o como fenómeno real, mas anormal.
Procura contê-lo e reduzi-lo, marginalizando seus autores possíveis,
no caso os pobres, e seus autores notórios, os criminosos.
Aos primeiros, restringe os passos, colocando-os em cortiços,
subúrbios e favelas; aos últimos, coloca em cadeias
e presídios.
Crime e criminoso, em si, não são objetos de reflexão
filosófica ou política, porque não são,
senão, a face negativa que faz lembrar que o homem não
chegou à perfeição. Serão, apenas, objetos
de práticas repressivas e filantrópicas destinadas a
reabsorvê-los para esbater, diminuir a distância entre
a realidade da sociedade e a imagem que ela faz de si.
XXII. Por ser o crime um objeto marginal à sociedade, a Crimi¬nologia,
como disciplina científica, ficou como e onde nasceu, na subalternidade,
levando o crime, o criminoso e a criminalidade a adquirir um estatuto
irrelevante, o que permitiu à sociedade burguesa e ao Estado
Moderno burguês isolar o fenómeno social da criminalidade
para depois reprimi-la, economizando os meios para conhecê-la
e controlá-la.
No século XVIII e XIX, isolar o crime era a profilaxia possível
e desejada pela sociedade e pelo Estado liberal. No século
XX, na sociedade e Estado de bem-estar social, a ação
não foi apenas profilática, no sentido de isolar para
controlar, mas, também, terápêutica, cuidando
do criminoso, tentando recuperá-lo, através da pena
e da educação para o convívio social e o mundo
da produção.
Nas duas épocas, o conceito da excentricidade do crime e o
princípio utilitarista da pena permaneceram. No fundo, o objeto
continuou o mesmo: enquadrar o fenómeno criminoso em um modo
de gestão. E como vício, crime e pobreza constituem
uma trilogia, cujas raízes se entrelaçam, o esforço
se fez no sentido de domesticar a classe pobre e incluí-la
como força de trabalho industrial ativa ou de reserva.
O Direito Penal do Estado burguês teve um papel importante no
controle da força de trabalho, ao criminalizar o não
trabalho, instituindo uma legislação que passou a regrar
o processo mi¬gratório do campo para a cidade e a circulação
e permanência do pobre dentro da cidade. Instituída no
século XVIII, a cartei¬ra de trabalho é a expressão
material desse controle, funcionando até os dias atuais como
um passaporte interno. Quem não tiver carteira de trabalho,
ou a tiver sem a assinatura de um empregador, é considerado
vadio e sujeito à prisão. A partir de então (Maillard,
op. Cit.) nasceu toda a concepção repressiva ao não
empregado, ao desempregado, ao mendigo e morador de rua, alimentando
a violência do Estado contra os pobres com base no Código
Penal, principalmente nos países da periferia do sistema capitalista,
marcados pela desigualdade de renda e de direitos.
No caso da criminalidade tradicional, quase invariavelmente praticada
pelos pobres que, nos países periféricos, constituem
a imensa maioria da população, a prisão e a filantropia
têm os mesmos objetivos: de dar um sentido à marginalidade,
absorvendo-a, de sorte a fazê-la mao-de-obra penal útil
ou mão-de-obra rentável. O errante de ontem, sujeito
à prisão, hoje passou à condição
de assistido e educando que circula entre os balcões de emprego
oferecidos pelo Estado e por organizações sociais. Apesar
dos textos antigos dos códigos penais proscreverem o errante,
o Direito Penal desinteressou-se por ele, não de direito, mas
de fato, porque no século XX a errância foi descriminalizada
face à nova política criminal para com o pobre.
A responsabilidade pela errância e pelo desemprego não
é mais do indivíduo e sim coletiva, da sociedade e do
Estado capitalista. A sociedade passou a ser devedora de direitos,
admitindo como constituintes da realidade os desajustamentos, doenças
e perturbações psíquicas e de comportamento,
assim como as carências de nutrição e educação.
Se o criminoso tem culpa ao perpetrar um crime, não se pode
culpá-lo pela pobreza em que vive, situação que
pode índuzi-lo a praticá-lo. A punição
muda de rosto e desliza do cárcere para o modelo educativo,
cujo objetivo não mais é isolar o criminoso, mas redimi-lo
para que possa produzir.
Mas, ainda assim, a penalidade manteve sua coerência graças
à re¬presentação que mantém do crime,
do criminoso e da criminalidade, que dá sentido ao conjunto
das práticas penais para os crimes visíveis e previsíveis
praticados pelo pobre.
Este modelo punitivo positivo foi inspirado pela noção
da existência de doís campos em conflito: o da vontade
coletiva pactuada e o da vontade individual; do que é certo
e permitido fazer, inspirado na solidariedade e o que é errado
e proibido por ser fruto da vontade própria que, conscientemente,
quer se sobrepor à lei.
Mas, há aqui uma série de contradições
internas sobre o crime cometido pelo pobre (sempre ele!): presume-se
que ele é consciente do que faz e prevê a possível
punição e, mesmo assim o pratica. Nesse caso, a punição
não servirá para que tome consciência sobre o
que fez; sabe que existe um contrato social e o princípio da
solidariedade que o inspirou, mas se sente excluído por ter
nascido pobre e permanecido pobre. Cabe-lhe a responsabilidade pelo
que faz ao contrariá-los e arca com uma possível punição;
todavia foi a pobreza que o levou a delinqiiir.
Contudo, para o pensamento liberal, a pobreza é um problema,
não um fato social. A sociedade burguesa sabe ser devedora
dos pobres, mas não lhe reconhece direitos de cobrar-lhe a
dívida. A dívida é filosófica e não
jurídica, ou seja, do ponto de vista da justiça burguesa,
a pobreza não serve de desculpa para o crime, embora possa
ser arrolada como atenuante. "Ao bom pobre — o órfão,
o velho, a mulher desamparada, o aleijado — a sociedade deve
caridade, ao homem dotado de força jlsica não deve nada"
(Maillard). O que cabe à sociedade liberal é o dever
de assistir os pobres, através da caridade ou filantropia.
Por inspirarem-se nesses postulados e na concepção de
que pobreza, vício e crime mantêm-se entrelaçados
é que as práticas antigas de repressão e as práticas
misericordiosas atuais caminham jun¬tas nos países de capitalismo
periférico.
Como se vê, os direitos de igualdade preconizados pela revolução
burguesa nunca se aplicou, senão aos que ganharam um lugar
na sociedade liberal. O Direito burguês, especialmente o Penal,
foi instituído para estabelecer a linha demarcatória
entre os portadores e os não portadores de direitos, antecipadamente
vistos como delinquentes, ainda que não tenham praticado, nenhuma
delinquência.
O que muda entre a sociedade liberal do século XVIIT e XIX
para a sociedade de bem estar social do século XX não
é, porém, o estatuto jurídico do indivíduo
pobre, mas seu estatuto social. Ele passou a ser sujeito de direitos,
ao menos, de ser assistido como cidadão de segunda, e de poder
ser levado em conta como atenuantes em seu favor os atributos individuais
negativos que porta, que dificultam sua inserção social
e sua ascensão a cidadão de primeira classe.
(Texto
extraido do livro "O Juiz sem Toga", de Herval Pina Ribeiro,
sob permissão do autor).
Herval
Pina Ribeiro, médico e especialista em saúde
do trabalhador, é professor da UFSP
(2007)
|
|