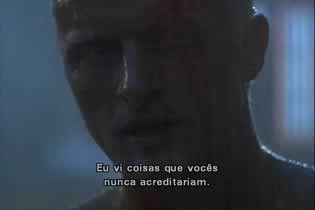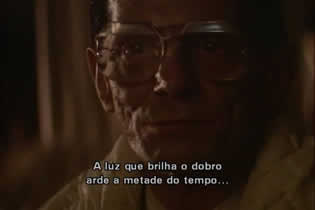|
|
“Blade
Runner” de Ridley Scott
(1986)
Blade
Runner: Pensando o Futuro com Medo
por
Jorge Alberto S. Machado e César Schirmer dos Santos
Introdução
Há
filmes que vão além do entretenimento, mostrando cenários
que, apesar de fictícios, poderiam ser reais. Blade Runner
(Scott 1982 e 1993) é um desses filmes. Ele nos mostra um futuro
amedrontador, e possível, nas suas linhas gerais.
Ainda que não tenha sido recebido com muita euforia nos EUA
(1), quando foi lançado em 1982, o filme teve relativo sucesso
na Europa e no Brasil. O que tornou o filme conhecido não foi
seu desempenho nas bilheterias. Sucesso de crítica, o filme,
baseado na novela de Philip K. Dick Do Androids Dream of Electric
Sheep? (1968), tornou-se um cult movie em pouco tempo, e atraiu
a atenção de estudiosos das humanidades. Ambientado
em uma atmosfera noir, com cenários arrojados e apurada concepção
artística, o filme aborda temas que hoje, passados mais de
vinte anos desde seu lançamento, são ainda bastante
atuais, como biogenética e ética, as implicações
do uso mercadológico da tecnologia, a relação
homem-máquina, urbanidade e a devastação ambiental.
Ademais, permite interpretações filosóficas e
políticas de seu conteúdo, como muitos intelectuais
vêm fazendo desde seu lançamento. Embora o filme não
se aprofunde tanto em nenhuma destas questões, ele oferece
uma oportunidade para a reflexão sobre o futuro da sociedade
humana, ao apresentar uma realidade futura “resultante”
de tendências contemporâneas.
O filme tem como cenário a cidade de Los Angeles no ano de
2019. A cidade mais parece uma combinação de uma metrópole
de primeiro mundo com uma do terceiro, talvez um híbrido entre
Los Angeles e Xangai, pela quantidade de chineses em suas ruas e nos
outdoors. Poluída, confusa, caótica, ultramoderna, cheia
de tipos estranhos, a atmosfera não poderia ser mais sufocante,
apontando para uma sociedade moderna onde a busca pela sobrevivência,
o individualismo, a anomia e o caos são elementos que se confundem,
em uma espécie de radicalização extremada da
vida atual nas grandes metrópoles (2).
Blade Runner é também um filme sobre um futuro
de exploração espacial. Dirigíveis futurísticos
sobrevoam a Los Angeles oferecendo pelos seus potentes autofalantes
“Uma nova vida […] nas colônias off-world, a chance
de começar de novo numa terra dourada de oportunidade e aventura.
Novo clima, instalações de recreação…”.
A Terra, planeta natal da humanidade, é lugar de onde todos
os que podem saem. Ficam aqueles que não passam no exame médico,
como o brilhante J. F. Sebastian, projetista de replicantes na Tyrell
Corp. Ele sofre de “síndrome de Matusalém”,
uma doença degenerativa que o faz envelhecer rápido
demais. Com 25 anos, ele parece ter o dobro.

Humanos e replicantes têm em comum a origem no planeta Terra.
Tirando isto e o fato dos últimos, apesar de semelhantes aos
primeiros, poderem ser desmascarados através da aplicação
de um teste de Voight-Kampff — no qual se reconhece a diferença
nos movimentos involuntários da pupila de homens e andróides
—, de resto não há diferenças.
Os humanos saem da Terra em direção às colônias
Off-world. Só ficam os que querem, os que não têm
como sair ou que são impedidos por motivos de saúde,
como J. F. Sebastian. Os replicantes são proibidos na Terra,
onde sua presença é coibida pelos blade runners, policiais
designados especialmente para encontrá-los e eliminá-los.
No filme, uma grande empresa de biogenética, a Tyrell Corporation,
produz, replicantes, andróides cuja inteligência é
no mínimo igual a dos cientistas que os criaram, e semelhantes
aos homens em tudo, menos nas respostas emocionais (3). Além
disso, são muito fortes e possuem habilidades específicas
que os fazem úteis para trabalhar em colônias humanas
em outros lugares do sistema solar. Para que não cheguem a
desenvolver maneiras de lidar com os próprios sentimentos tais
como as dos humanos, os replicantes são geneticamente programados
para viverem apenas quatro anos. Embora tenham sido criados à
imagem e semelhança do homem — são mais perfeitos
do que os humanos: “mais humano do que os humanos é nosso
lema”, diz seu criador, o Dr. Tyrell —, não são
considerados humanos e, por isso, são submetidos a uma espécie
de regime de escravidão.
Para garantir sua própria segurança, os humanos mantêm
os replicantes como escravos em colônias fora da Terra. No entanto,
estes adquirem consciência necessária para se rebelar
contra os humanos e ir para a Terra e buscar do seu criador algum
meio de estender sua curta existência. Quatro deles decidem
voltar à Terra para tentar estender seu tempo de vida. Ao fazê-lo,
tornam-se uma ameaça, e devem ser eliminados.
Os replicantes desenvolveram sentimentos nesse curto período,
o que os faz solidários uns aos outros com respeito a sua condição
“sub-humana” e ao desejo de prorrogar suas vidas. Na Terra,
localizam o projetista genético J. F. Sebastian, que os levará
ao cientista que os criou, o Dr. Eldon Tyrell. O blade runner
Rick Deckard é encarregado da missão de localizá-los
e eliminá-los. No início de suas investigações,
em visita a Tyrell, Deckard conhece sua última criação,
a replicante Rachael. Mais moderna, ela tem a memória —
e, portanto emoções — da falecida sobrinha do
presidente da Tyrell. Deckard, que tem uma vida solitária na
metrópole, acaba se apaixonando por ela.
Brincando
de Deus
Uma
das questões que chamam a atenção no filme é
a possibilidade do homem de criar outros homens e programá-los
geneticamente, de brincar de Deus /criador. Embora fisicamente semelhantes
aos humanos, os replicantes são seres desprovidos de história,
de passado, talvez de alma, mas não de consciência.
Façamos uma distinção entre alma e consciência.
A alma é atribuída a alguma coisa a partir de critérios
tradicionais. Na atual tradição católica, por
exemplo, a alma é atribuída a todos os seres humanos.
Mas nem sempre foi assim. Os católicos já usaram critérios
étnicos. Houve tempos em que os católicos europeus atribuíam
alma aos da sua etnia, e também aos africanos e asiáticos
se isso lhes aprouvesse. Mas não a atribuíam aos indígenas,
aos escravos e nem mesmo a todos os homens do continente europeu.
A consciência é atribuída a alguma coisa a partir
de critérios objetivos. Seres capazes de captar o ambiente
através dos sentidos, e também de refletir sobre aquilo
que apreendem do ambiente, são plenamente conscientes. Seres
capazes de sentir, mas talvez incapazes de refletir sobre o que percebem,
são talvez parcialmente conscientes.
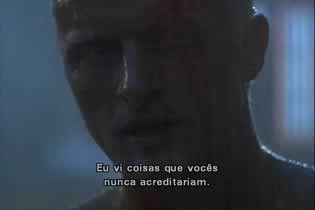
Nós, homens, nos atribuímos alma, e, refletindo, nos
damos conta da própria consciência. Os replicantes têm
consciência, assim como os homens. Isso pode ser objetivamente
verificado. Deixemos de lado a questão sobre se aqueles homens
de 2019 ainda atribuem alma a si mesmos. Digamos que sim. Será
que eles atribuem alma aos replicantes? Provavelmente não.
E por que não? Porque eles são considerados apenas uns
bonecos, e tratados como escravos, tal como os católicos tratavam
os índios da América antes de atribuir alma aos mesmos.
Ironia. A tradição diz que Deus cria o homem a sua imagem
e semelhança, e lhe dá uma alma. O homem cria o replicante,
ser mais perfeito do que ele mesmo, mas lhe priva de alma. Brincando
de Deus, o homem mais parece um demônio.
Por não terem nem história, nem passado, nem tradição,
os replicantes não podem atribuir a si mesmos alma. Suas vidas
são programadas para serem tão curtas que morrem quando
chegam estão a ponto de poderem refletir sobre sua própria
metafísica e espiritual.
Os replicantes são seres cônscios de si e de suas limitações.
Para seu próprio desespero, a sua morte está programada,
definida. A vida para eles é um espetáculo fugaz que
mal podem desfrutar. Seu criador, o verdadeiro homem, é um
ser egoísta que os fez apenas para deles se servir, a quem,
portanto, apenas devem odiar por sua mesquinhez e indiferença
ao seu sofrimento. Os replicantes são um produto da ciência
e da técnica, amoral em sua essência, e estão
no desabrigo das instituições que cuidam da saúde
moral dos seres com alma.
De aí, pode-se levantar a primeira questão: quais são
os limites da tecnologia, ou da engenharia genética especificamente?
Com o mapeamento genético, a possibilidade de se “fazer”
homens programados é apenas uma questão de tempo. Basta
decifrar as chaves da vida, que é o que se faz hoje. Diante
das perspectivas que a biotecnologia oferece, os homens “atuais”
são seres “antiquados”. São suscetíveis
a doenças de todo tipo, são fracos, têm problemas
genéticos. Mas o homem passa, aos poucos, a adquirir o domínio
sobre a natureza e sobre sua própria espécie. O conhecimento
do genoma humano significa a obtenção das respostas
de boa parte dos enigmas da vida, pelo menos dos aspectos biológicos
da vida humana, de modo a abrir o caminho para que o homem possa,
de alguma forma, projetar seu próprio futuro enquanto espécie.
Esses temas ligados às novas tecnologias nos levam à
questão sobre a própria essência ou natureza da
tecnologia. Heidegger (1953) traça a diferença entre
a tecnologia atual e a tecnologia antiga. As tecnologias antigas eram
modos do homem cuidar da Terra. Cuidando da Terra, arando-a, irrigando-a,
semeando-a, o homem tinha meios de construir sua própria felicidade.
Já as tecnologias atuais, diferentemente das tecnologias antigas,
são modos de se usar a Terra. Na técnica atual, o rio
é usado como parte de uma cadeia de geração de
energia, ou de um circuito de geração de turismo. Atualmente
plantamos e colhemos em um terreno até exauri-lo. Atualmente,
o que chamamos de “reflorestamento” nada tem de cuidado
com a Terra. É apenas plantio massivo de árvores que
serão utilizadas como matéria-prima para se fazer papel.
Os replicantes são “filhos” oriundos da tecnologia
atual. Esses filhos não estão aí para serem cuidados,
mas sim para serem utilizados. Os terráqueos que se mudam para
as colônias off-world ganham replicantes para seu próprio
uso. Como diz um dirigível de propaganda: “… totalmente
grátis … use seu novo amigo como um servo corpóreo
pessoal ou como incansável mão-de-obra no trabalho —
o humanóide desenhado sob medida pela engenharia genética
especialmente para as suas necessidades”.
A tragédia de Blade Runner é que se considera
distante aquele que é, no fim das contas, um igual. O mesmo
ocorre com o homem, no estado atual da tecnologia. Ele usa a Terra
como se ela fosse uma coisa distante de si, mas não seria ela,
ao contrário, próxima,ou melhor, a razão da sua
própria existência?
Mas seriam as criações humanas desenvolvidas em laboratório,
sejam homens ou seres híbridos, um “novo” homem?
Ou não passariam de apenas um “mero experimento”?
Teriam ou não alma os seres criados em laboratório —
como os replicantes?
Essa última pergunta já foi feita há quatro séculos
com respeito aos índios das América e aos escravos da
África. A escravidão foi moralmente suportável
por muito tempo ao “civilizado” europeu porque, como “selvagens”
ou “desprovidos de alma”, os indígenas não
eram considerados seres da mesma espécie humana. Somente depois
de muito debate no Vaticano, que se concedeu o privilégio da
“humanidade” aos povos indígenas. Afinal concluiu-se
que eles tinham alma — que inclusive deveria ser salva...
No caso dos replicantes, eles eram produtos de uma empresa, a ela
pertenciam e para ela existiam. Produzir replicantes seria um bom
negócio, pois poderia poupar o homem dos trabalhos árduos,
difíceis ou indesejáveis. Além disso, nada de
salários, reclamações ou inconvenientes e contra-produtivos
direitos.
Então porque ser contra o uso do trabalho dos replicantes,
se facilitam a vida? No filme, não há essa preocupação
ética em seus personagens — que fica por conta do espectador
—, salvo o que demonstra o policial Deckard, ao se apaixonar
por Rachael.
Repertório
de mazelas pós-modernas
Blade Runner apresenta um amplo repertório das mazelas pós-modernas
que tornam o futuro da espécie humana ou do planeta permeado
de dúvidas e incertezas.
Em uma atmosfera nada otimista de uma sociedade moderna, poluída,
pós-industrial, formada por indivíduos anônimos
e indiferentes, é a combinação da frieza no uso
das tecnologias com a precariedade moral e existencial do homem que
dá enorme densidade à película. O cenário
é uma espécie de radicalização das tendências
descritas por Ulrich Beck (1999) daquilo que chama “sociedade
do risco” — a modernidade caracterizada por um futuro
permeado de incertezas devido à reflexão (no sentido
de auto-confrontação) das conseqüências ambientais,
sociais indesejáveis do desenvolvimento tecnológico
e industrial, irresponsável pelos efeitos que causa.
No mundo de hoje, há problemas de sobra para conjecturar cenários
de incertezas e riscos: guerras, miséria, desigualdades sócio-econômicas
abissais, centros urbanos abarrotados e violentos, esgotamento dos
recursos naturais, individualismo extremado, manipulação
genética e terrorismo global. De tais problemas, talvez só
sobre o último não haja referência no filme. Ainda
sim, nesse ambiente ficcional, poderíamos imaginar os replicantes
como espécies de prototerroristas, pois são motivos
semelhantes aos deles que levam as pessoas ao terrorismo: falta de
esperança no futuro, menosprezo, injustiça e perseguição.
Eliminar os replicantes é uma questão de segurança.
Tal como os terroristas de hoje, eles são indivíduos
que vêm “de fora”, os “outros”, estranhos
à sociedade, com os quais ou não se compartilha os mesmos
valores e cujos interesses são opostos ou conflitantes (4).
Assim como os terroristas, os replicantes são crias indesejáveis
e desesperadas da sociedade moderna, que escapam a seus controles
e representam uma ameaça. Em ambos casos, confundem-se com
a população — afinal, ninguém é
terrorista até que cometa o ato — e têm de agir
na clandestinidade. Para se proteger dos deles, o melhor é
eliminá-los, empregando os meios mais adequados e as tecnologias
mais apropriadas. Terroristas e replicantes têm em comum de
carregarem o signo do desespero e da falta de esperança, do
medo do futuro, da negação da humanidade e da possibilidade
de qualquer entendimento entre os homens (ou com os homens).
Uma
nova relação com a tecnologia
O
filme exprime mensagens que parecem propor refletir, ou ao menos nos
levar a refletir, acerca da necessidade de uma nova relação
com a tecnologia. Critica a desumanização que a técnica
e sua aplicação — a tecnologia — pode causar.
Crítica essa feita pela apresentação da criação
tecnológica como homem, isto é, como si mesmo. É
como se o filme dissesse que a natureza, o Outro flagelado pelo homem,
não é mais do que o Si Mesmo desse mesmo homem.
A tecnologia, como ela é retratada, responde aos interesses
dos humanos (indivíduos), empresas, mas não aos interesses
da humanidade. Inclusive, retrata uma sociedade desumanizada: a idéia
abstrata de humanidade é caracterizada negativamente pela sua
própria ausência — o filme aponta a necessidade
de buscá-la ao passar a mensagem que, no fundo, a tecnologia
desumaniza ou pode desumanizar o homem. Blade Runner não
chega a propor um tipo de relação com a tecnologia,
até porque não aponta nenhum caminho, é blasé
do começo ao fim, apenas deixa a impressão ao espectador,
por sua concepção tão sombria da instrumentalização
da técnica, da urgência de se construir uma nova relação
— quiçá essa seja uma das maiores lições
do filme. Quando a tecnologia domina a própria vida ou a própria
existência humana, falta pouco para que nos tornemos quase marionetes
ou, no extremo, espécies de seres programáveis por ela,
cujo desenvolvimento aponta para objetivos que mal conhecemos ou temos
uma noção parcial e fragmentada (5). A questão-chave
não é a resistência / medo face aos desenvolvimentos
tecnológicos, mas como elas podem ser incorporadas aos sistemas
de produção e pela sociedade em geral, quais usos lhe
serão dados, como servirá ao homem, enfim, quais são
seus propósitos.
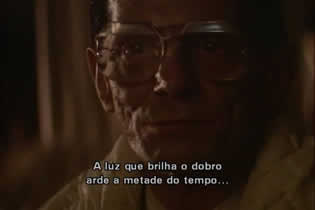
Mas, se a manipulação genética prevalecer sobre
natureza e a história do homem, qual será então
a diferença entre um replicante e um humano? Será a
capacidade para a convivência social ou a capacidade para o
trabalho? Ou a diferença seria apenas de status (humanos x
replicantes ou seres autênticos x programados geneticamente)?
Em Blade Runner, os replicantes são superiores. Os humanos,
além de mesquinhos, parecem obsoletos. São suas próprias
limitações que representam a maior ameaça aos
humanos. Os replicantes seriam tanto o caminho para a superação
de suas limitações como o da própria destruição
da espécie. Construir um super-humano ou um homem do futuro
seria destruir a si próprio. Eliminar o continuum do homem
natural seria algo tão ou mais terrível como permanecer
como está e abdicar de toda a tecnologia da biogenética.
Como sair disso?
O mais sórdido é que qualquer tentativa de situar uma
relação dicotômica homem x replicante, se contradiz
e se confunde, na insistência do replicante em humanizar-se
— ou equiparar-se ao seu criador — e do homem em desumanizar-se
em sua aventura tecnológica, como se os papéis estivessem
invertidos.
Uma das cenas da parte final do filme, em que o replicante, tendo
a vida do caçador de andróides Deckard em suas mãos,
resolve deixá-lo sobreviver, tem grande significado simbólico.
O olhar apavorado e a posição indefesa do policial nas
mãos do andróide, depois de uma longa luta que terminou
em fuga desesperada do humano, põe em evidencia a fraqueza
e o fracasso do homem frente à tecnologia. De caçador,
o homem passa a caça. A piedade que o homem não tem,
tem o “monstro”. Este, o “desprovido de alma”,
o andróide, o “produto” — já que eram
comercializados por uma empresa — tem mais “humanidade”
que o homem, ao conceder a vida ao assassino de seus semelhantes.
A racionalidade como critério
“Penso,
logo existo” é um teste para se encontrar em si mesmo
a razão. O fato do teste de Descartes não servir para
mim mesmo, na situação do filme, é uma boa razão
para rejeitá-lo para mim mesmo: não mais utilizar a
racionalidade como critério! Que critério utilizar?
Outra forma de me distinguir do outro? Propomos, antes, que ao invés
de buscar a diferença em relação ao outro, busquemos
a semelhança.
Aparentemente, o conflito entre homens e replicantes pode ser reduzido
à posse de um objeto descartável. Como diz Bryant, o
policial chefe de Deckard, os replicantes são apenas skin jobs,
uns bonecos, umas coisas fajutas. Mas há uma abertura para
ver sua “humanidade” no filme. Em primeiro lugar, os policiais
que os “aposentam” são chamados de blade runners,
ou seja, de “corredores sobre a navalha”, isto é,
pessoas que precisam seguir por um estreito caminho para realizar
seu trabalho (6). Fora deste caminho eles se arriscam a simplesmente
assassinar pessoas. Mas, mesmo seguindo sobre o fio da navalha, Deckard
sente-se um assassino ao matar Zhora. Além disso, ele se apaixona
por Rachael.
Conclusão
O cenário atual nos apresenta uma continuada degradação
ambiental e uma continuada apresentação de novos produtos
e tecnologias criados apenas para satisfazer a sede de lucros dos
acionistas das grandes corporações. Quanto ao indivíduo,
destina-se a ele o frugal papel de consumidor imbecilizado pela mídia
e guiado em suas escolhas pela publicidade. Com isso, vislumbra-se
um futuro permeado de incertezas, em que os avanços tecnológicos
não foram capazes de dar garantias de uma existência
segura. Pelo contrário, proporcionaram riscos cada vez mais
complexos e incontroláveis.
Blade Runner nos faz refletir sobre muitas questões
dos tempos brutais em que vivemos, em tempos de muita miséria
humana, guerras matanças, destruição lenta da
biosfera em um cenário, portanto, de estreitos horizontes para
mudanças positivas. O domínio tecnológico, o
conhecimento científico e a elucidação os mistérios
da vida biológica são notáveis avanços
que parecem insistir em se perder no imenso deserto ético e
moral em que o homem moderno se vê situado. Talvez seja mais
confortável não pensar nessas coisas e apenas viver
o presente, o aqui e agora. O filme Blade Runner é incômodo
por causa disso: nos faz pensar o futuro com medo. Nos faz pensar
o presente com medo.
Notas
1.
O filme recebeu duas indicações ao Oscar (categorias
melhores efeitos especiais e melhor direção de arte),
mas não ganhou nenhum. Os vencedores foram ET e Gandhi, respectivamente.
Recebeu também uma indicação ao Globo de Ouro
(categoria melhor trilha sonora), mas também não ganhou.
O vencedor foi ET.
2.
Segundo Carlos Eduardo Lins da Silva (1990), para criar a concepção
visual de Blade Runner, Ridley Scott baseou-se nos filmes noir da
década de 40 e teve ajuda do ilustrador de HQ Moebius para
recriar Los Angeles, além do historiador Dan O’Brien.
Ele também se inspirou em artistas de períodos e estilos
diferentes como Hieronymous Bosch (1450-1516), o pintor e gravurista
inglês William Hogarth (1697-1764), que retratava o cotidiano
dos habitantes de Londres do séc. XVIII de forma revolucionária
em sua época, e também de Edward Hopper (1882-1967),
que descrevia de forma sombria a vida urbana norte-americana das décadas
de trinta e quarenta do século passado.
3.
No filme, o teste de Voight-Kampff é utilizado para distinguir
homens de replicantes através da resposta emocional a certas
perguntas.
4.
No imaginário de Hollywood, muitas vezes há pouco lugar
para a celebração da diversidade. Aquele que não
é branco, que não tem nome anglo-americano ou não
fala inglês como primeira ou única língua é
visto como ameaça. Uma maneira clássica de Hollywood
representar o inimigo é dar-lhe um nome, uma face ou um sotaque
não anglo-americano. Os “homens maus” de Hollywood
têm algo de latino, europeu do leste ou do centro, asiático
ou africano, no mais das vezes. De certa maneira, Blade Runner preserva
essa iconografia clássica de Hollywood, tornando a própria
casa dos americanos em um local estranho, isto é, estrangeiro.
5.
Em uma cena curta mas significativa de Blade Runner, a replicante
Pris brinca com uma boneca quebrada na casa do projetista genético
J.F. Sebastian.
6.
É possível que a expressão “blade runner”,
oriunda de uma novela de William Burroughs, não queira dizer
nada, tendo sido apenas considerada um bom título pelo estúdio,
tal como sugere Hill (2002), mas algumas falas de Deckard sugerem
que ele, na sua profissão, segue por um estreito caminho que
mal consegue distinguir a “aposentadoria” de andróides
do simples assassinato covarde.
Bibliografia
Beck,
Ulrich (1998) La Sociedad del Riesgo. Barcelona: Paidós.
Heidegger, Martin. (2001) “A questão da técnica.”
[1953]. In Ensaios e conferências. Petrópolis e Bragança
Paulista: Vozes e Universidade São Francisco. Trad. Emmanuel
C. Leão.
Hill, C.N. (2002). “Philip K. Dick: a Comparison between the
Novel Do Androids Dream of Electric Sheep? and the film Blade
Runner”, http://members.aol.com/cnhill/sf/bladerunner.htm
(consultado em 28/01/2005)
Lins da Silva, Carlos Eduardo (1991) “Blade Runner”, in
Labaki, A. (org.) Cinema dos anos 80. S. Paulo: Brasiliense.
Scott, Ridley. 1982. Blade Runner. EUA: Warner Studios.
_____. 1993. Blade Runner: director’s cut. EUA: Warner Studios.
Jorge
Alberto S. Machado é professor de sociologia da USP
César Schirmer dos Santos
é mestrando em Filosofia pela UFRGS
|
|