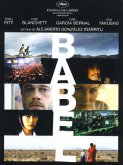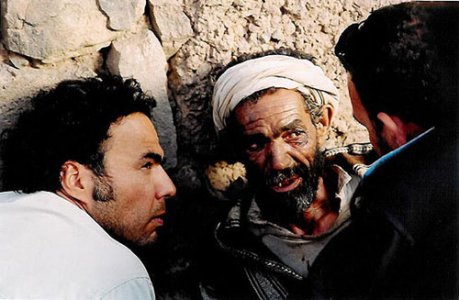|
|
“Babel”
de Alejandro Iñarritu
(2006)
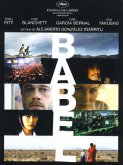
A
Razão pessimista em ação: Babel e a
sociedade (capitalista) do risco
Vi
o magnífico fime de Alejandro Iñarritu, Babel (EUA,
2006), com certo atraso. No entanto, isso acabou sendo interessante,
porque tive a oportunidade de ler, antes, críticas diversas
da projeção. A observação das críticas,
por si só, já daria subsídio para uma discussão
própria, com a qual inicio o que pretende ser um comentário
crítico do filme.
É possível perceber um perfil ou padrão de crítica
que, por falta de termo melhor, chamaremos de "liberal",
observado (em maior ou menor grau) em críticos, por exemplo,
da revista Veja ou do Estado de S. Paulo , sem falar
em levas de jovens conservadores que abundam em blogs (por sinal,
bem intrigante tal fenômeno: adolescentes ou jovens que, não
obstante a energia e vivacidade próprios de sua condição
etária, se esvaem em um conservadorismo duro, seco, com uma
sensibilidade restrita, medíocre, fragmentada).
Nesta linha analítica "liberal", a crítica
em geral é focada sobre a pretensão do diretor em conectar
o que não poderia ser - ou o que seria melhor não ser
- conectado, as vidas dos personagens espalhados em quatro cantos
do planeta. Neste sentido, sobram adjetivações quanto
ao caráter "pretensioso", "moralista" ou
"forçado" do filme. Quem tenta ser mais refinado
não escapa de uma visão igualmente ideológica
(conservadora): o "mal", segundo o diretor (segundo tais
críticos), são os americanos/ocidentais/ricos, bem como
seus gendarmes, sempre retratados de modo "estereotipado"
(vide o exemplo dos turistas, insensíveis ante o infortúnio
da personagem de Cate Blanchett, ou do policiais estadunidenses na
fronteira mexicana).
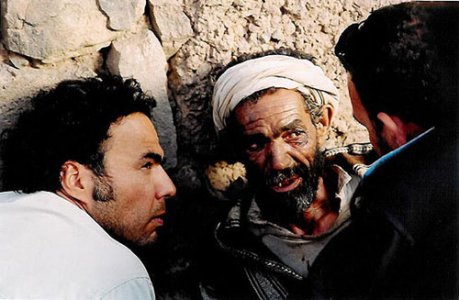
Quem tenta ser mais refinado ainda acusa o filme de ser tributário
de uma (talvez esquerdista?) "estética da pobreza"
ou de uma "cosmética da fome", padecendo do mal de
estereotipar e sobretudo de filmar a pobreza com extrema beleza. Como
se, por mais "bela"(?) que fosse a retratação
da pobreza, isso conseguisse abstraí-la de sua horrenda materialidade
concreta. Finalmente, há os críticos que até
enxergam virtudes no filme, argumentando, contudo, que o autor deveria
renunciar à pretensão de caracterizações
totalizantes da realidade, e concentrando-se somente em contar cada
uma das histórias do filme separada ou isoladamente.
Portanto, se o filme de Iñarritu pretende criticar a globalização
(e ai de quem mencionar um palavra jurássica como "capitalismo")
ou suas disfunções estruturais, soa o alarme e surge
de imediato uma irritação (termo inclusive utilizado
por alguns críticos referindo-se ao filme), um incômodo
na subjetividade de observadores já soterrados pela hegemonia
liberal e pelo dogma da suposta falta de sentido da realidade, característico
da fragmentação intelectual induzida pela pós-modernidade.
Por outro lado, é possível observar também um
outro perfil de críticas, este talvez mais progressista (ou
pelo menos mais sensível/humano), que conseguem alcançar
elementos do filme renegados, minimizados ou ignorados pelos grupos
acima. Aparecem menções a termos como "intolerância",
"globalização", "falta de comunicação",
"solidão", "carência". Enfoca-se
o caráter frágil das vidas isoladas, ou sua sujeição
quase indefesa a forças ou desígnios que, não
obstante se abaterem sobre todos, sejam eles ricos ou pobres, brancos
ou não brancos, homens, mulheres ou crianças, não
são de conhecimento de ninguém. Apenas não se
chega (ou pelo menos não vi comentários que chegassem)
à pretensão de se denominar ou de se compreender mais
a fundo que forças extra-individuais seriam estas.

Sem dúvida, um dos temas essenciais de Babel é
a questão da (falta de) comunicação, da ausência
de diálogo, e isso entre seres que são, necessária
ou potencialmente, dialógicos. Por mais que se possa dizer,
com grau razoável de acerto, que os personagens de Iñarritu
padecem de graus diversos de "estereotipação",
sabemos, desde Weber, que um recurso muito útil de análise
científica é o exagero deliberado de algumas características
observadas no mundo empírico, exatamente como forma de sacudir
o intelecto para que ele perceba a existência real de determinados
fenômenos. Assim, ainda que se dissesse que Iñarritu
opera com "tipos ideais" de meninos marroquinos, de adultos
ricos/ocidentalizados, de adolescentes problemáticos ou de
autoridades autoritárias/insensíveis, eles apenas existem
para revelar que no mundo empírico existem características
similares. Longe de serem, portanto, criações arbitrárias
ou irrealistas do diretor, os "tipos ideais" de Iñarritu
(caso a isso pudéssemos reduzir a história e os personagens
do filme, e inclusive penso que não podemos) apontam para dimensões
reais da existência humana e social na contemporaneidade.
Sendo a questão do diálogo entre indivíduos sociais
um tema central de Babel, chama a atenção como
duas horas e vinte minutos de projeção colocam em xeque,
por exemplo, centenas de páginas escritas, por Habermas e seus
seguidores, em favor do poder e das virtudes da "razão
comunicativa". Pois o que se observa em Babel é
quase o exato oposto disso. Parte da atmosfera angustiante com que
o filme envolve o espectador advém precisamente da incapacidade
dos indivíduos em exercer sua "razão comunicativa",
dirimindo, com ela, os problemas e dramas que se multiplicam e que
enredam os personagens em um aparente caos de medo, de insegurança
e de desconfiança mútua. Os espectadores racionais e
comunicativos somos tomados por uma angústia, quase um desespero,
em acompanhar uma história em que os indivíduos interagem
entre si mas que ninguém de fato ouve o próximo, que
dirá compreender as razões que os movem.

A sensação é a de que não importa falar
(ou incorrer na "ação comunicativa"), porque
isso fará pouca ou nenhuma diferença em um mundo de
surdos. Neste sentido, a personagem Chieko, a adolescente japonesa
surda-muda, ilustra, de modo gritante (ainda que sob a forma serena
de quem observa um mundo silencioso, aparência que entra em
conflito com a ebulição própria da adolescência),
este mundo de indivíduos que não se entendem - não
por acaso, um mundo chamado de Babel.
Mas a demolição, senão da esperança de
concretização, mas da efetividade medíocre da
razão comunicativa, seria apenas uma das idéias-força
que destacaríamos no filme. Abaixo da falência da ação
comunicativa encontra-se a materialidade de um padrão societal
- o da forma-mercadoria - que faz a apologia das coisas em detrimento
das pessoas, da desigualdade no lugar da igualdade, da opressão
em vez da convivência democrática. A predominância
da mercadoria, da desigualdade e da opressão manifesta-se concretamente
no objeto que conecta de fato todas as narrativas do filme: a arma,
símbolo do bem valioso, fonte de poder.
Neste contexto, é interessante observar - Babel parece
indicar tal reflexão - como mesmo as ações mais
descompromissadas, inocentes e até gentis acabam subvertidas
pela lógica férrea de um mundo coisificado, desigual
e injusto. Pois, no filme, são precisamente aquelas motivações
subjetivas dos personagens que originam todos os problemas que enfrentarão
no filme. A boa índole da babá mexicana que, de modo
descomprometido e atencioso, acaba levando as crianças do patrão
para o casamento do filho. A brincadeira inocente das crianças
marroquinas tentando acertar um alvo. A gentileza do japonês
em dar um presente em agradecimento à atenção
de seu guia marroquino. O "pessimismo da razão" de
Babel parece não conhecer limites: não importam as boas
motivações, as intenções sinceras e nem
mesmo a inocência infantil, todos serão tragados para
o turbilhão de dor, sofrimento e infelicidade impostos por
uma lógica societal em que imperam, soberanos, a coisificação/bestialização
dos indivíduos, a propriedade privada, o controle social, a
segregação.

E este mundo social mercantilizado/coisificado, insensível,
injusto ou opressivo é - como se não bastasse - turbulento,
imprevisível e incontrolável. Esta é a terceira
linha essencial de Babel , que na verdade se desdobra das anteriores
e vice-versa. Para utilizar um termo sociológico da moda, cunhado
por sociólogos como Giddens e Ulrick Beck, trata-se da sociedade
capitalista como uma sociedade do risco . Os prejuízos humanos
decorrentes de tal ordem para as classes subalternas ou populações
periféricas são fartamente evidenciados (ainda que pouco
ouvidos e, muito menos,compreendidos por tantos). No filme, os cenários
humanos mexicano e marroquino evidenciam isso.
Mas aqui Babel também avança. O risco - atributo
da turbulência, imprevisibilidade e incontrolabilidade inerentes
ao capitalismo - é, além de estrutural, generalizado.
Passível de alcançar praticamente todos os indivíduos,
com pouca distinção entre eles ou suas condições/posições
sociais objetivas. Notável é o fato de que os personagens
mais dilacerados por desgraças no filme são os pertencentes
à família norte-americana. O argumento parece transparente:
por mais brancos, cultos, ricos ou socialmente "incluídos"
que os indivíduos sejam, ninguém está a salvo
das vicissitudes da sociedade do risco. "Risco", aqui, está
mais para redundância ou eufemismo, quando se sabe que ele é
inerente à sociedade capitalista.
Que o risco paira sobre as cabeças de todos os indivíduos
da modernidade capitalista, por mais seguros que acreditem estar,
dentro de suas gravatas e ternos, de edifícios gigantescos
fincados no núcleo riquíssimo de cidades situadas em
nações igualmente ricas e poderosas - isso já
foi revelado espetacularmente pelos ataques terroristas ao World Trade
Center. Mas, se neste caso é possível localizar uma
origem "racional", consciente e extraordinária para
a ocorrência de um fato trágico - as motivações
dos terroristas islâmicos -, Babel se ocupa de retratar este
mesmo risco em sua manifestação "inconsciente",
disseminada no cotidiano, revelando que ricos e pobres, dominantes
e dominados constituem um sistema cujos efeitos cedo ou tarde alcançarão
a todos.
Ou seja, trata-se do risco estruturante de uma dinâmica social
que, sem ser objeto de maiores questionamentos quanto à sua
natureza fundamental, segue triturando indivíduos. E isso em
uma época que, efetivando suas potencialidades, se aproxima
cada vez mais de oferecer os meios materiais necessários à
consecução generalizada de uma existência digna
da vida humana.
Sidartha
Soria ,
é sociólogo, doutorando em sociologia (UNICAMP-IFCH)
(2007)
|
|