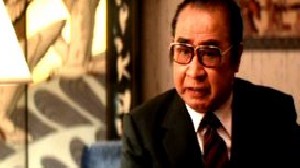|
"Fábrica
de Loucuras", de Ron Howard
Do mesmo diretor de “O preço de um resgate” (1997), “Uma mente brilhante” (2002), “O código Da Vinci” (2006), entre outros, o filme “Fábrica de Loucuras” (1986) - de Ron Howard, é uma produção hollywoodiana que tem como título original “Gung Ho”, expressão chinesa que significa “trabalhar juntos”. Distribuído pela Paramount Picture, seu gênero é definido como “comédia dramática”, porém caberia dizer que o enredo também pode ser considerado mais como um drama do que uma comédia a ele associada. Ou ainda, para não fugir do gênero a ele atribuído, e para lembrar Alves (2006), um drama que tende a se interverter em comédia.
Os
moradores passam a ver Hunt, como é popularmente chamado, como
o “salvador da pátria”, pois é nele que
são depositadas todas as esperanças de dias melhores,
haja vista a grande avalanche de fechamento de portas no comércio
local, em uma cidade à beira da ruína, dependente que
é das finanças geradas pela fábrica de automóveis.
Essa perspectiva é bem retratada logo no início do filme,
quando são apresentadas cenas em que Hunt, ao encontrar com
sua namorada (Audrey), se desloca pela cidade e é saudado por
quem o vê. Hunt sente-se confiante de sua missão, pois
“quem resiste a essa cara de pau?” É o que ele
diz para uma de suas interlocutoras, que o encontra no caminho. Ele
sabe que se falhar, “a cidade vai pro brejo”, e compartilha
esse misto de confiança e nervosismo para a sua namorada. Não
se deve esquecer que nesse cenário as relações
estão permeadas pelo fetichismo da mercadoria, onde as coisas
(e as pessoas) estão subsumidas ao valor de troca, que subtraiu/substituiu
o valor de uso (e social), passando a determiná-lo de fora,
do exterior. É nesse cenário inicial, portanto, que
o filme “Fábrica de Loucuras” está inscrito
e que Hunt, como um dos personagens principais irá mergulhar.
Uma saga que vai da esperança, seguida da vitória em
conseguir a reinstalação da planta da fábrica,
voltando à derrocada novamente. Mas que, ao final, é
superada pelo que pode ser visto como uma vitória final, bem
característica dos filmes hollywoodianos. Ao se deslocar para Tókio, Hunt encontra-se frente a uma primeira dificuldade: a barreira linguística. Assim, após uma pequena saga procurando o prédio sede da Assan Motors Company, tendo ido parar, inclusive, em um campo de plantação de trigos, passando pelo centro nervoso de Tóquio, em uma garupa de bicicleta, Hunt se depara com uma situação que aos seus olhos norte-americanos é um tanto quanto inusitada e pouco convencional, mas que faz parte do cotidiano gerencial daquele país: ao adentrar em uma sala, Hunt vê aquele que no futuro próximo será o gerente da fábrica que será reinstalada em sua cidade. Aos berros, e vestido de kimono com várias faixas coloridas penduradas (“faixas da vergonha”), Cosohiro (o outro personagem principal, estrelado por Gedde Watanabe) está em uma escola para “gerentes fracassados”, cujas atividades envolvem diversos elementos de cunho constrangedor, tais como chicotadas e auto xingamentos depreciativos. É assim a cultura gerencial japonesa retratada no filme em análise, que no decorrer da trama vai sendo mostrada em sua mais dura realidade, inclusive se mostrando como um contra censo perante aos trabalhadores da cidade norte-americana.
Quando
finalmente Hunt encontra o local para onde havia sido enviado, se
vê em outra situação inusitada, e mais uma vez
tangenciada pela barreira linguística, pelo menos até
descobrir, após a afirmação do diretor presidente,
de que todos ali falam o mesmo idioma que o seu. Tentando ser o mais
despojado, agradável e convincente possível, Hunt começa
a fazer a explanação dos motivos pelos quais a planta
da fábrica deveria retornar para Handleyville. No entanto,
ele está envolto em um ambiente onde a frieza é a marca
indelével, típica dos homens de negócio, sujeitos
venais, interessados que estão em resultados sempre positivos
e na contagem sempre geométrica dos lucros auferidos de seus
negócios. Em uma sala ampla, com uma mesa oval ao centro, rodeada
de cadeiras onde estão sentados todos os acionistas da Assan
Motors Company, postado em pé, em uma das cabeceiras da
mesa, inicialmente Hunt dialoga com uma voz feminina, que sai dos
alto-falantes instalados na sala, e que dá as instruções
sobre como ele deve projetar os slides da sua apresentação.
O sistema Capital é assim: impessoal (é uma sociedade
anônima) e impregnado pelo valor venal. É nesse último
elemento fundante capitalístico que Hunt deve centrar a sua
apresentação; e o seu tempo não é o mesmo
dos homens de negócio que alí estão para ouvi-lo;
eles não têm mais tempo a perder – time is money
é a expressão por excelência dos “personas”
do capital. E mais uma vez, agora em tom de ironia, Hunt não
perde a oportunidade de fazer referência àqueles que
aos seus olhos, mais uma vez, são hábitos estranhos:
“vamos começar antes que cansem de encarar um ao outro
em silêncio”. Em seu discurso, Hunt diz, para tentar impressionar
os executivos: “Todos ganhavam a vida lá. Davam duro.
Aí, a fábrica fechou. Se vocês reabrirem, todos
vão dar mais duro ainda. Prometo. É uma beleza de cidade.
Gente boa. Faria tudo pra cidade voltar ao que era.” Ao
voltar para Handleyville, Hunt e a cidade já têm as esperanças
esgotadas, marcada que está por novas placas de fechamento
no comércio local, quando chega a notícia de que os
japoneses concordaram em reinstalar a planta da fábrica de
carros na cidade. Desse modo, a equipe de gestores e suas respectivas
famílias são recebidas com honrarias que até
mesmo eles ficam surpresos. Na verdade, tal surpresa parece advir
do fato de Cosohiro não se achar, e muito menos ser visto por
seus colegas japoneses, como merecedor de tal recepção,
pois ele é um egresso da escola de “gerentes fracassados”
e a quem coube a missão de gerenciar a nova fábrica.
Embora o ano de produção do filme seja o de 1986, período
em que o modelo taylorista/fordista já estava em derrocada
havia algum tempo, esse era o modelo de produção industrial
em larga escala a ser seguido pela equipe japonesa. No entanto, em
alguns aspectos apresenta-se como um misto, com elementos característicos
típicos de um toyotismo incipiente, como a eliminação
do desperdício, próprio da produção em
massa convencional. Além disso, e como consequência,
a ideia de trabalho em equipe e as diversas ações características
dos Círculos de Controle de Qualidade (CCQs). Apenas para adiantar, todos têm um elemento comum, como modo de expressar um mesmo fenômeno: controlar o processo de trabalho a partir da dinâmica de acumulação do capital (voltaremos a esses pontos mais tarde). Portanto, a árdua missão de Cosohiro e de sua equipe é: a implantação de uma fábrica, em solo norte-americano, tão parecida, em termos de produtividade e qualidade, quanto às já existentes em solo japonês, utilizando-se das mesmas ideologias gerenciais. Para isso, é preciso lançar mão de algumas estratégias de convencimento e aceitação, por parte dos trabalhadores, das novas regras que permearão a produção. Embora possa ser observado que os EUA tenham sido o berço do modelo taylorista/fordista, em “Fábrica de Loucos”, observamos que os operários não estão acostumados à intensidade de trabalho e com a rigidez gerencial imposta pelos japoneses, típica daqueles modelos, e cuja aceitação ocorre ampla e passivamente pelos trabalhadores japoneses. Uma dessas novas regras diz respeito ao novo valor pago pelas horas trabalhadas, que antes era de $11,50 dólares e passa a ser de $8,75.
Todas
as regras estão descritas no regulamento trabalhista que é
entregue a Hunt, na primeira reunião entre ele e a equipe japonesa,
já na cidade de Handleyville. É nesse momento que Hunt
lembra-se de onde conhece Cosohiro e é esclarecido sobre a
situação inusitada que presenciou em Tókio. Também
é nessa reunião que Hunt é estrategicamente convidado
a ocupar um cargo executivo, como elo de ligação entre
os japoneses e os operários. Embora não concordando
com os termos do regulamento, Hunt já está enredado
e seduzido o suficiente com seu novo cargo, para não conseguir
ir além de algumas interrogações acerca do novo
estatuto laboral e salarial ofertado pelos japoneses. A partir daquele
momento, seu papel é apenas o de convencer os trabalhadores
a aceitarem tal proposta. Ora, a escolha de Hunt é apenas uma
das estratégias dos japoneses para fazer cumprir o seu projeto,
permeado que será pela precarização do trabalho. No
entanto, o exército industrial de reserva, na ótima
de Marx (1996), fenômeno que atinge a totalidade da força
de trabalho no sóciometabolismo do capital, faz com que os
operários e proletários industriais se submetam a condições
de trabalho cada vez mais degradantes, caracterizados que estão
pela superfluidez da força de trabalho. Eles já estão
subsumidos o suficiente à contingência do mercado local.
E por isso, o que lhes resta é a venda da força de trabalho
como se essa estivesse exposta como uma mercadoria em uma vitrine.
Mas sabemos que o valor dessa “mercadoria” já está
impregnado por uma determinada obsolescência que lhe fora imposta,
e que retira dela o seu real valor, inclusive o valor afetivo. Aliados
a esse fenômeno de flexibilização, e parte constitutiva
do mesmo, percebemos, em “Fábrica de Loucuras”,
a fragmentação e segmentação dos trabalhadores,
heterogeneidade, individualização, fragilização
dos coletivos e crise do sindicato, que perde seu poder de intermediação
entre a classe trabalhadora e o capital. É na reunião
com o sindicato, onde os operários estão ávidos
por trabalho, como coiotes selvagens atrás de sua caça,
que há a maior expressão desses elementos: um dos operários
questiona a preocupação do sindicato, que naquela circunstância
parece ser uma preocupação menor, pois o sindicalista
“não mora aqui! E tem emprego!” Eles já
sabem que “para além da exploração dos
homens, havia ainda algo pior: a ausência de qualquer exploração”
(FORRESTER, 1997. p. 16). Eles estão submersos em um mundo
contingente à única oferta de emprego que lhes é
salvadora e, por isso, demonstram uma consciência de classe
contingente, não necessária, uma vez que mesmo o sindicalista
tentando fazer-lhes perceber que se os japoneses notarem que estão
unidos poderão fazer a concessão quanto ao contrato
formal. O sindicato já não tem mais poder de barganha
mesmo junto aos operários, a quem pretende representar junto
ao patronado. Sendo força de trabalho enquanto mercadoria,
os operários, podemos recorrer a Alves (2006), têm sua
“angústia dilacerante” residente no fato de “não
conseguir realizar o desejo mais íntimo de toda mercadoria:
ser consumida” (p. 75). É nesse momento que Hunt, solicitado
pelo operário, já que “é dos nossos e os
conhece”, e ovacionado pelo conjunto dos trabalhadores, opera
com um discurso no qual faz um paralelo entre a situação
atual por eles vivenciada e uma final de campeonato de basquetebol
vivida por todos, aponta como moral da história, a importância
de todos garantirem posição. Para ele, todos já
estão com sorte de os japoneses terem tomado a decisão
de reinstalar a planta da fábrica naquela cidade. Portanto,
Hunt prega que todos devem deixar os japoneses fazerem “suas
jogadas. Aí, fazemos as nossas. Vencemos o jogo no último
tempo”, pois ele, Hunt, tem certeza de que pode controlá-los. É
com essa certeza que Hunt e todos os operários, junto com a
equipe de gerentes japoneses começam a empreitada, mas logo
nos primeiro dia começam as discordâncias com relação
aos métodos gerenciais adotados pelos japoneses. Antes, segue-se
a cena com alguns símbolos clássicos da fábrica
taylorista/fordista, ou da modernidade-máquina: o primeiro,
de cunho objetivo, retrata o pátio da fábrica já
com um grande número de carros montados e, ao fundo, a grande
instalação da fábrica de automóveis, com
uma grande inscrição Assan Motors Company,
em sua fachada, expondo, logo de início, a lógica de
produção e reprodução em massa. Na cena
seguinte, mais um elemento da fábrica taylorista/fordista:
os operários entrando na fábrica (o operário
massa sugerido por Chaplin, em “Tempos Modernos”); como
o “operário bovino” de Frederick Taylor, como o
tipo ideal para o exercício das tarefas típicas da produção
automática. Mas é o relógio (de ponto) o “símbolo-objeto”
para controlar o tempo de trabalho, o maior símbolo de controle
do tempo de trabalho do verdadeiro espírito do capital na segunda
modernidade. “É através do cronômetro que
se objetiva a medida do valor, calculado pelo tempo de trabalho socialmente
necessário à produção de mercadorias”
(ALVES, 2006. p. 64). Aqui, a expressão “time is Money”,
apontada acima, ganha a mais pura objetividade e retrata, por excelência,
o capital como “o senhor do tempo (e do espaço)”.
No
pátio da grande indústria, os operários estão
reunidos para ouvir o discurso de boas-vindas. Nele, Cosohiro ressalta
aquilo que seu gerenciamento carregará como sinais do toytismo,
diz ele: “Devemos ter espírito de equipe! O único
propósito é pensar só na companhia!” E
segue: “Ginástica matinal!”. Também conhecida
como ginástica laboral ou ginástica de pausa, como era
chamada, data do final do século XIX e início do século
XX, cujo primeiro livro editado sobre o tema data de 1925, na Polônia,
intitulado “Ginástica de Pausa” (LIMA, 2005). Essa
prática passou a ser utilizada massivamente em todo mundo,
com um discurso de legitimação que atrela a sua prática
ao mito da qualidade de vida, o que se comprovaria através
do aumento da produtividade do trabalhador e consequente aumento da
lucratividade das empresas. Ora,
bem sabemos que a prática de controle sobre os corpos, de isolamento,
de despersonalização e de submissão disciplinar
dos corpos (e subjetividade), são características das
chamadas instituições totais (hospitais, quartéis,
fábricas). Emblemática do surgimento da medicina moderna
(social) e definida como biopolítica, também e primeiramente,
recaiu sobre os corpos enquanto força de produção,
força de trabalho (FOUCAULT, 1979), e persisti ainda hoje,
embora com outra configuração. Desse modo, o capitalismo
se apropria dos corpos dos trabalhadores, impondo-lhes uma nova subjetividade
no uso de seus corpos. Como afirma Le Breton (2006, p. 79), “toda
a ordem política vai de encontro à ordem corporal. A
análise leva à crítica do sistema político
identificado com o capitalismo, que impõe a dominação
moral e material sobre os usos sociais do corpo e favorece a alienação”.
Essa dominação moral e material dos corpos também
se apresenta em diversas passagens do filme “Fábrica
de Loucuras”, particularmente nas diversas e sucessivas cenas
apresentadas e que retratam o esforço feito pelos operários
para dar conta da produção de 15 mil novos carros, no
período de um mês, com o objetivo de quebrar o recorde
japonês de produção. As cenas retratam o “fazer
horas extras”; “fazer serão”; “chegar
cedo”; “cada vez mais rápido”; “ganhar
tempo”, até uma das mais inusitada delas, que mostra
um dos operários urinando dentro de uma garrafa, no seu posto
de trabalho. Aqui vale uma breve descrição do cenário sobre o qual se constrói essa possibilidade de uso e apreensão dos corpos. Na verdade, o acerto que Hunt fez com os japoneses foi para uma produção de 15 mil novas unidades, “nem um a mais, nem um a menos (...). Se faltar um, não recebem aumento nem nada”, diz Cosohiro. Para tanto, mais uma vez Hunt precisa cumprir com sua função de mediador entre os gerentes japoneses e os operários. Ele lança mão de um discurso convincente que joga com a dignidade e com o espírito vencedor característico do norte-americanismo. E na assembleia com os operários, Hunt diz: “o operário americano é inferior. O japonês trabalha melhor e mais rápido. Não gosta de ouvir? Nem eu, porque é mentira. Quem é melhor que nós, quem?” finaliza perguntando. Embora inicialmente apreensivos, pois surgem questionamentos acerca da capacidade de produção desse quantitativo, finalmente todos concordam com o “acordo”, pois são levados a crer que ainda que sejam produzidos apenas 13 mil novos carros, eles ganharão um meio aumento salarial. “Can we do it!” é o brado de honradez que soa ao final da assembleia dos operários.
Mas
após o intenso e acelerado trabalho precarizado, todos já
estão cansados. E finalmente apresentam, a Hunt, alguns cálculos
que envolvem horas e dias trabalhados, e que revelam que não
será necessário tanto trabalho para que 13 mil carros
sejam produzidos. Mas Hunt insiste na produção real
contratada com os japoneses, o que irrita um dos operários
(Willie), que argumenta: “nas últimas semanas comemos,
dormimos e mijamos aqui (...). Hoje é domingo. Não vejo
meu filho há duas semanas”. É o próprio
trabalho tornando-se insuportável para o trabalhador, como
afirmam Marx e Engels (1985). É
assim que os novos usos de seus corpos e, portanto, as novas subjetividades
em lidar com eles, lhes estavam sendo impostos pela ordem política,
que sempre os lembrava de que: “No music. No cigar. Only work!”.
Fossem, ou por meio das rígidas instruções acerca
do modo de executar os movimentos e nos resultados deles a serem obtidos
(“No Japão, o operário sente vergonha. Faz serão.
Zero por cento de defeito”), fossem os (mais uma vez) de ginástica
laboral, cujos movimentos robotizados e padronizados do instrutor
modelo todos deveriam seguir, e que de certa forma já prenunciavam
o que lhes aguardava na linha de montagem – sua incorporação
à máquina. Isso é o que desejava Taylor (1990),
ao apresentar as exigências para o operário ideal na
linha de montagem da grande fábrica taylorista/fordista: a
total anulação e robotização dos trabalhadores
responsáveis pela execução de tarefas parceladas.
“Se você é um operário classificado deve
fazer exatamente o que este homem lhe mandar, de manhã à
noite. Quando ele disser para levantar a barra e andar, você
se levanta e anda, e quando ele mandar sentar, você senta e
descansa. Você procederá assim durante o dia todo. E,
mais ainda, sem reclamações. Um operário classificado
faz justamente o que se lhe manda e não reclama” (TAYLOR,
1990, p. 46). Fossem,
ainda, os movimentos de execução das tarefas na linha
de montagem propriamente dita, quando os operários eram constantemente
trocados de posto de trabalho com o objetivo de “ter de aprender
de tudo”, uma vez que “como equipe, ninguém é
especial”, como diz Saito, numa clara referência à
polivalência, exigência típica do modelo de produção
toyotista. A captura já não se volta apenas para os
braços, mas para além deles; tenta-se capturar a totalidade
das subjetividades individuais. Hunt ainda tenta justificar as atitudes
dos operários, explicando que todos estavam na América
e “todo americano gosta de se sentir especial”. Mas Saito
é taxativo e inflexível: “Só há
um jeito de dirigir a fábrica!” Diferentemente
de “Tempos Modernos”, onde o visionário Chaplin
“apenas” faz um prelúdio daquilo que irá
se disseminar no capitalismo tardio (pós-guerra), por meio
das novas tecnologias da informação e comunicação
(ALVES, 2006), essa captura, em “Fábrica de Loucuras”,
era apoiada pela instalação de câmeras na linha
de montagem e pelo subsequente monitoramento de seus movimentos na
sala de controle operada pelos japoneses. Trata-se de um controle
virtual que se espraia para além da linha de montagem, atingindo,
inclusive, a privacidade operária no interior da fábrica.
Nesse caso em particular, o “No newspaper!” retrata a
negação da possibilidade de leitura dentro do banheiro,
momento mais íntimo e privado em que se espera estar livre
dessa rede. Esses elementos filmíticos retratam aquilo que
se define como modelo panóptico (BENTHAM, 1789), uma tecnologia
de vigilância e controle que dá, à quem inspeciona,
total visibilidade à intimidade de um grupo de indivíduos,
produzindo um olhar normatizador (leia-se modo de controle eficiente
– disciplina) sobre quem deve ser vigiado. O que está
em jogo nada mais é do que a construção de uma
técnica minuciosa que permite ver e que induz a efeitos de
poder (FOUCAULT, 1987. p. 180). Podemos ir mais adiante: o poder não
é verificável, e é a partir dessa dúvida
que o olhar único e centralizador da norma pode ser introjetado,
uma vez que ao acreditar que está sendo vigiado, o indivíduo
passa vigiar a si próprio. Esse é o “objetivo
último” do poder: a submissão do indivíduo
a um campo tal de visibilidade que por si só, sem a utilização
de força, apenas da tecnologia disciplinar, faz do indivíduo
o princípio de sua própria sujeição à
norma. Prescindi-se ao vigia e transforma-se o indivíduo em
seu próprio agente de controle... bem característico
do sistema toyotista, seus CCQs e seus demais apetrechos de controle
da totalidade da subjetividade operária. Mas como toda relação de poder, essa não poderia ficar imune aos atravessamentos das subjetividades operárias; imune ao pulsar incessante do trabalho vivo tentando fugir da captura pelo trabalho morto; fugir da disciplina de ordem taylorista/fordista com sua formatação de divisão alienada do trabalho. Nesse sentido é que os operários, seja por meio de ações que os ajudem a lidar melhor com tais dispositivos, como ouvir música ou fumar enquanto trabalham, seja por meio de comportamentos e/ou comentários jocosos acerca dos hábitos nipônicos mostrados pelos japoneses em seu cotidiano na fábrica e fora dela, consciente ou inconscientemente tentam, a seu modo, lidar com as novas exigências que lhes têm sido impostas . Assim é que em uma das cenas, durante as refeições, dois operários aparecem imitando o modo de comer dos japoneses, com palitos. Interessante notar que nessa cena aparece sobre a mesma dos operários outro símbolo magistral da dominação agressiva do capitalismo mundial: uma lata de refrigerante, com a inscrição “Coke”. Essa mesma marca de refrigerante irá aparecer, posteriormente, na cena em que Cosohiro encontra Hunt para agradecer-lhe por ter intercedido em favor de sua esposa, ocasião em que a mesma estava sendo assediada por um dos operários, dentro do supermercado e que Hunt acaba se desentendendo com o operário, chegando mesmo a travar luta corporal com o mesmo.
Em
outra cena, mostrada como o que seria um dia de folga de todos, os
operários aparecem fazendo chacotas dos japoneses enquanto
esses últimos tomam uma espécie de banho coletivo em
um rio. O que também parece estar em jogo é o choque
de culturas que passam a ter que conviver juntas, em um cenário
onde a sociabilidade “face to face” é inevitável
e que passa a ser marcada por essas mesmas culturas antagônicas,
postas em movimento. Por um lado, os norte-americanos acostumados
com um padrão de trabalho que os vinha permitindo ser produtivos
o suficiente para não perder e/ou ver prejudicados seus laços
familiares e seu lazer de modo geral. Além disso, ainda o sentimento
nacionalista de “serem os melhores”, embora permeado por
uma cultura individualista, pois sempre pensam ser “especiais”.
Por outro, os japoneses que, tendo como referência os padrões
de alto desempenho dos operários nipônicos, cujo gerenciamento
se baseia em rígidas técnicas de controle de qualidade
da produção, tentam mantê-las, juntamente com
seus hábitos culturais, em solo estrangeiro. Diz
Cosohiro a seu mais novo amigo norte-americano (Hunt), como um desabafo
de suas angústias por ver que está prestes a incorrer
em mais um fracasso gerencial que poderá arruinar a sua vida
profissional perante seus compatriotas e companheiros de trabalho.
Ele será obrigado a fazer “Shimatsusho” (pedir
perdão) novamente, pois eles (os operários) ficaram
humilhados por minha causa. “O operário se mede pelo
trabalho. A companhia é tudo! Uma equipe. Foi como de um país
conquistado, virarmos poder econômico”. Eis a grande revelação
de Cosohiro, que também nos faz compreender o porquê
da auto imputação de tanta rigidez ao seu trabalho,
o que se espraia às suas vidas afetivo-sociais. É o
que demonstra a cena em que ele está em casa, ocupado com seus
relatórios sobre a produção que novamente naquele
mês caiu mais 3,5%, e é solicitado por sua esposa a montar
uma bicicleta que ela acabara de comprar. Mas dada a sua ocupação,
ele diz não ter tempo (novamente o elemento central do capitalismo,
se espraiando para a vida humano afetiva e social) e se irrita com
o argumento de sua esposa, que o cobra dizendo que “americanos
têm tempo”. Para ele, esse tempo só existe “por
que são maus operários”. É o esfacelamento
do elo de ligação entre tempo e lazer, imputado pelo
capital como uma incompatibilidade que criminaliza o ócio. Mas,
infelizmente, Cosohiro recebe a ligação de seu chefe
(Sr. Sakamoto) cobrando-lhe explicações não apenas
sobre a baixa produtividade da fábrica, mas também acerca
de sua suposta perda de controle sobre os operários, a ele
revelada por seu sobrinho Saito. Após essa fatídica
ligação, Cosohiro mostra-se desolado, ao que é
imediatamente amparado por sua esposa. Nessa cena, vale a pena fazer
uma rápida reflexão sobre a questão de gênero
retratada no filme. Nessa situação em particular, e
na cena em que acontece o jantar na casa de Cosohiro, entre a equipe
de gerentes da fábrica e SUS respectivas famílias, Hunt
e sua namorada Audrey, fica claro o papel secundário ocupado
pelas mulheres na sociedade japonesa de cultura machista. À
mulher japonesa cabe os cuidados com o lar, incluindo os filhos e
as compras domésticas, ou ainda, uma participação
secundária no lazer, apenas torcendo por seus maridos, como
por exemplo, em um jogo tipicamente masculino (baseball), retratado
no filme. Outra cena que deixa claro a desvalorização
da mulher diz respeito ao fato de o Sr. Sakamoto, após visita
surpresa à casa de Cosohiro, recursar o convite de seu sobrinho
para pernoitar em sua casa, preferindo o hotel, pois a esposa de Saito
está em casa. Os
negócios, por outro lado, são assuntos a serem tratados
pelos homens, o que fica notadamente determinado no jantar acima mencionado,
quando elas saem imediatamente ao anúncio de um deles de que
a sobremesa será servida apenas após tratarem dos negócios.
Mas com Audrey parece ser diferente, pelo menos ela tenta ser, embora
também esteja envolta nesse modelo de sociabilidade de gênero.
Ela, por sua vez, interroga se sua presença incomodará
aos demais, pois ela quer “saber o que se passa na fábrica”.
Demonstra uma certa racionalidade e pragmatismo diante das incertezas
impostas pelas contingências, e posteriormente, é o que
irá fazer com ela sempre, de algum modo, esteja alertando Hunt
sobre as questões que se entrelaçam às suas vidas
afetivo-emocionais. Envolta aos olhares machistas e cerceadores dos
japoneses, e o olhar exclamativo de Hunt, que parece querer aprovação
dos japoneses para a permanência da namorada, parece não
haver outra saída a não a ser a de concordar com a sua
presença. Ainda
com relação ao desabafo de Cosohiro, percebemos que
ele não é o único a ter problemas. Hunt também
está imerso em um problema que do seu ponto de vista, não
é nada engraçado, mas “deprimente”, em suas
palavras. Ele revela que fez outro contrato com os operários,
diferente do que havia feito com os japoneses. No final das contas,
Hunt e Cosohiro acabam se aproximando, talvez até por identificação
de seus problemas-desafio (ou angústias identificatórias).
Ambos estão imersos em conflitos humanos genéricos totalizadores
de sua identidade abstrata frente às questões maiores,
impostas pelo capital. Isso
irá se refletir nas cenas futuras, a partir do acidente de
trabalho na linha de montagem, ocorrido com um dos operários
(Googleman). Ao fazer a tentativa de corrigir um problema técnico
ocorrido na máquina, Googleman tem sua mão apreendida
pela máquina, numa clara demonstração de que
nesse sistema é o homem (trabalho vivo) que deve ser dominado
pela máquina (trabalho morto), e não o contrário.
É a dominação do homem pela máquina, que
mostra que para ser operada “de dentro” e “por dentro”,
requer muito mais do que um mero operário-objeto tão
abstrato quanto às peças que a compõe. Hunt,
que também acabará por se inserir na linha de montagem,
como um ato de desespero para ajudar os operários a atingirem
a meta contratada, será culpado por seus companheiros como
sendo o responsável pelo ocorrido. Além disso, com sua
postura rígida e inflexível, ao ver a linha de montagem
parada, Saito ordena, enfurecidamente, que todos voltem imediatamente
ao trabalho, o que provoca a fúria de Cosohiro, que parte para
cima dele para travar luta corporal com o mesmo. Já
no hospital, quando todos estão aguardando notícias
sobre Googleman, inclusive Ito, um dos japoneses que fora deixar alguns
agrados para o operário acidentado, acaba revelando, sem saber
a verdade, que não haverá aumento para a produção
de 13 mil carros. Já não há mais, portanto, segredo.
No entanto, Hunt é visto como um líder pelos operários,
e como tal, eles ainda negam a realidade. Uma negação
que, podemos supor, advém dessa identificação
entre os operários e Hunt, que sempre usa de discursos que
mexem com o “grande espírito americano”; com o
orgulho que sentem em achar que são os melhores. Um discurso
cujo “enxerto” é composto por situações
cotidianas vividas por todos, o que aumenta a confiança de
seu discurso. E é nessa relação “umbilical”
que Hunt se apega na esperança de conseguir resolver os problemas
que a cada dia se avolumam e que parecem apontar para um desfecho
que todos já sabem: o fechamento da fábrica. Se
para Hunt parece sempre haver uma saída, ou uma possibilidade,
mesmo que essa esteja apoiada na manutenção da inverdade
acerca do contrato que fechou com os japoneses, para Cosohiro parece
que a situação é bem diferente, pelo menos no
modo como ele encara os problemas. Sua situação fica
piorada quando recebe mais uma visita surpresa de Sakamoto, acompanhado
de seu fiel escudeiro Saito, quem tem o empreendimento individual
de derrubar Cosohiro. Percebemos que a família de Cosohiro
está, para a desgraça da tradição japonesa,
mas talvez não dele próprio, totalmente americanizada,
envolvida que está nos hábitos alimentares, gostos e
desejos midiáticos norte-americanos. E para piorar a situação,
Sakamoto o comunica que irá à fábrica no dia
seguinte, pois foi alertado por Saito que “os homens têm
reunião do sindicato”, e se despede: “você
me decepcionou!” E
tudo está insustentável a ponto de, após discutirem,
Hunt e Cosohiro travarem luta corporal dentro da fábrica. Um
(Hunt), defendendo o aumento salarial para os operários, mesmo
não tendo cumprido o acordo. Outro (Cosahiro), por estar desnorteado
com a possibilidade de receber novamente as faixas da vergonha, “por
pensar como americano”. Vale a pena retrocedermos nessa cena
para analisar alguns de seus elementos. O diálogo inicial entre
os dois é bastante esclarecedor do desespero em que ambos se
encontram; quando Cosahiro reafirma o que os japoneses pensam sobre
os operários dizendo: “Todo mundo se julga especial!
Não querem ser uma equipe. Só pensam em afirmar sua
personalidade! Não durariam dois dias no programa japonês!
(...) São egoístas, por isso são fracos!”.
Hunt rebate as acusações e diz que Cosahiro é
que é um fraco, pois “não tem coragem de enfrentar
o seu chefe. É um capacho!” Seu ato, de sair chutando
e quebrando uma câmera de monitoramento, faz com que Cosohiro
o demita publicamente. Mas
essa discussão não para por ai; vai além, a ponto
de ficar insustentável com trocas de acusações
entre ambos, sobre o modo de dirigir a fábrica, que sob o ponto
de vista japonês “é a maneira certa!” E Hunt,
por sua vez, questiona: “Se são tão bons, como
perderam a guerra?” Vem à tona, mais uma vez, a rivalidade
entre japoneses e norte-americanos, levando-os à luta corporal.
Interessante notar que durante a briga, ambos caem em uma esteira
rolante, numa clara referência ao que realmente estava acontecendo
com os dois e, por extensão, com todos os envolvidos. Uma clara
acepção ao caráter totalizador da racionalidade
taylorista/fordista que atinge instância da produção
e da reprodução social em ambos os países. Mais
uma vez, é o trabalho vivo, literalmente, sendo tragado pelo
trabalho morto. É essa incontrolável situação
que leva os operários a abandonarem a fábrica, cancelando
a reunião com o sindicato. Como
se já não pudesse ficar pior, e em uma data nada mais
sugestiva (Independence Day), é o dia da total desgraça
pública de Hunt. Ao subir no palanque de comemorações,
o prefeito de Handleyville pede a presença de Hunt, e acaba
desmascarando-o perante toda a comunidade (“O homem que salvou
Handleyville! Destruiu Handleyville! (...) definitivamente!”).
Sinal da extraterritorialidade da Assan Motors Company que submete
o poder local, e seus concidadãos, a uma chantagem que aponta
o risco de ir embora, cortar os laços locais, fazendo-os subordinados
para evitar o desinvestimento (BAUMAN, 2001). Hunt, não tendo
mais escolha, a não ser revelar toda a verdade, é encarado,
do meio da multidão, por sua ex-namorada Audrey e, como se
a estivesse ouvindo novamente dizer: “eles querem que diga a
verdade, e não de um aproveitador”, (conselho que lhe
foi dado por ela, logo após terem saído do jantar e
brigado em função dele tê-la mandado calar a boca),
revela a todos a verdadeira história e pede desculpas. No
dia seguinte, Sakamoto e todos os outros estão envolvidos no
trabalho, pelo menos é o que deveriam fazer. No entanto, Ito
está apreensivo com o nascimento de sua filha, mas não
ousa demonstrar tal sentimento para o chefe Sakamoto. Porém,
Cosahiro já não sustenta mais toda aquela situação
e, não apenas revela o que está acontecendo com Ito
(que imediatamente nega), mas também deixa vir à tona
o que sempre pensou acerca do ritmo de trabalho dos japoneses: “É
ideia americana. Trabalhamos demais. Isso não é nossa
vida! É uma fábrica! Nossos amigos e família
devem ser nossas vidas! Estamos nos matando! Somos escravos! Muitos
pensam como eu. Digam! Podemos aprender com os americanos!”
Mas sua fala parece não ter efeito algum, particularmente sobre
Sakamoto, que volta ao trabalho e com ele, os demais, enquanto Cosahiro
sai desnorteadamente pelas ruas da cidade, até ser quase atropelado
por Hunt e Audrey, que fizeram as pazes. Após um breve diálogo,
Cosahiro corre e se atira no rio, assustando Hunt, que corre para
salvá-lo daquilo que era “apenas um chilique”.
E os dois, novamente, estão frente a frente com suas angústias
identificatórias. Ambos, por estarem arruinados, embora cada
um a seu modo. Cosahiro, por estar mais do que nunca, desacreditado
frente a seus compatriotas, e cada vez mais prestes a ser humilhado
por ter fracassado enquanto gerente e, portanto, ser “presenteado”
com as “faixas da vergonha”. Hunt, por sua vez, por ainda
não ter conseguido cumprir com aquilo que lhe foi dado como
missão e que ele incorporou como sendo seu: salvar a cidade;
tirá-la da ruína que a ameaça novamente. Agora,
esse é seu projeto pessoal, pois são “mais de
mil e duzentas famílias arruinadas!”. E ambos têm
pelo menos um motivo a mais que os leva a se entreolharem e tomar
uma decisão: Hunt reatou o namoro com Audrey, e Cosahiro, enfrentou
seu chefe. Mas
ambos estão, ao mesmo tempo, ligados por um ideal: mostrar
para si próprios que ainda são capazes. Basta-lhes uma
nova chance para fazerem tudo diferente, pois sabem que “bagunçamos
tudo!”. E é essa nova chance que, juntos, eles vão
à procura. Ao voltarem ao trabalho, sós, estão
dispostos a fabricarem os mil carros que faltam para dar conta do
contrato. Inicialmente desacreditados pelos operários, que
estão todos de braços cruzados no pátio da grande
fábrica, e pelos japoneses, que estão trabalhando na
desmontagem da fábrica. Mas não tarda para que todos
os operários, e posteriormente os japoneses, chegarem à
conclusão de que podem dar conta da produção
estabelecida. Ao
fim, nas cenas que se sucedem, percebemos que os elementos filmíticos
utilizados demonstram a total integração (leia-se “espírito
de equipe!”, tão valorizado pelos empreendedores nipônicos)
entre os operários norte-americanos e os japoneses. Na linha
de montagem, todos, inclusive esses últimos, são retratados
exibindo os hábitos (ouvir música, dançar e fumar,
por exemplo) que antes eram condenados como comportamentos que supostamente
prejudicariam a produtividade na fábrica. Mas as exigências
de qualidade permeada por ações rígidas e inflexíveis
ainda estão presentes, e apenas submersas, naquele cenário.
É o que mostra a cena em que um operário instrui o outro
sobre o modo padrão de pintar o carro, em uma clara demonstração
de que os gestos, agora interna e subjetivamente apreendidos e orientados
ainda são, de certa forma, regulados pelas prescrições
dos procedimentos. Eles devem permanecer abstratos, para além
do seu próprio intelecto. É preciso, em certa medida,
se deixar instrumentalizar; tornar seus comportamentos ajustáveis
às formalizações do serviço ao qual “pertencem”
e aos parâmetros com os quais são avaliados. Trata-se
de uma renúncia “estratégica” através
da qual o indivíduo deixa, aparentemente, de produzir sentido
à sua atividade, aceitando o sentido prescrito pelos procedimentos
(GAULEJAC, 2007, p. 104). Mas
ainda faltam pelo menos seis carros para o total a ser produzido.
E o Sr. Sakamoto, como qualquer gestionário, é uma pessoa
séria e eficaz, e por isso, não tem tempo a perder com
qualquer reflexão epistemológica (MARTINET, 1990). Por
todo o observado até aqui, em relação a ele,
trata-se de um homo economicus, como o “monstro antropológico”
(BOURDIEU, 2001), que é habitado por uma suposta racionalidade
que reduz todos os problemas da existência humana a um cálculo.
E com essa suposta racionalidade começa a contagem dos carros
produzidos, sem se importar com os problemas, também existenciais,
de Hunt e Cosahiro. No entanto, após verificar uma “lista
de defeitos imensa”, mesmo com a produção total
pactuada tendo sido cumprida, conclui, perante todos, que aquela “nunca
será uma fábrica japonesa!”. Ora, Hunt sabe que
seus problemas existenciais (humano-genéricos) também
podem afetar Sr. Sakamoto, pois este também está imerso
na rede de estranhamento que envolve a todos e, por isso, “se
for embora agora, vai perder a maior virada do mundo!”. E é
com essa aposta que Hunt o convence de que “seus homens e os
meus, juntos, têm um significado. Um significado grandioso.
Me orgulho deles!”. Embora
o filme date da segunda metade da década de 1980, a cena final
é uma perfeita demonstração da integração
entre o espírito individualista norte-americano e estilo de
gerenciamento de coletivo presente nas políticas gestionárias
japonesas. Trata-se da versão atualizada da ascensão
individualista, denominada de off limits (ENRIQUEZ, 1997), que convive
amistosamente com o desenvolvimento de um forte espírito de
equipe. Aparentemente distintos e contraditórios, esses dois
aspectos podem parecer incompatíveis quando pensados a partir
da possibilidade de se alcançar o sucesso individual e o estar
afinado à sua equipe. No entanto, ao contrário dessa
primeira impressão, “os termos se compõem em personalidades
maricano-nipônicas onde a mistura miriádica aponta para
a tão ambicionada qualidade total de produtos, serviços
e homens” (BARROS, 2009, p. 342). Esses elementos são analisados por Enriquez (1997) ao se voltar para o tipo de estrutura organizacional dominante no mundo corporativo atual – a estrutura estratégica. Segundo esse autor, frente à impossibilidade de total apreensão do mundo, faz florescer modelos adaptáveis às condições sempre mutantes do mercado, dos parceiros, dos adversários. Hunt, é um dos que esse mundo precisa; ele sabe tomar decisões e, ao mesmo tempo, sabe incluir a participação de todos nesse processo. Todos, portanto, devem estar de fato, referidos ao mesmo ponto, aglutinando-se em torno de algo que faça Unidade: A empresa, O grupo, As metas, O cliente. São esses os mecanismos de controle do modo de pensar, dos ideais com os quais se identificar, do controle sobre o corpo. E é a este último aspecto que Eugène Enriquez dá destaque particular. É a esse aspecto que nos detemos nessa cena final, que traduz toda a ideologia gerencialista nipônica, que capturou o espírito individualista norte-americano. Para esse autor, o corpo deve ser refeito, deve ser endurecido, deve se preparar como um guerreiro (e nada melhor do que a ginástica laboral!!!), sujeitando-se ao exame constante de seus limites na busca de ultrapassar os últimos índices. Um corpo off limits. Um corpo ascético, armado para a guerra, mas capaz de “encarnar as paixões para poder provocar entusiasmo ou o medo que dinamiza os grupos” (p. 26). O endurecimento aparece aliado, finalmente, à flexibilidade. Não mais uma única identidade, mas múltiplas identidades segundo o que as circunstâncias exigirem. “identidade compacta e identidades múltiplas não se opõem, elas são complementares uma da outra” (p. 25). Essa é a realidade final de “Fábrica de Loucuras”.
José
Guilherme Wady Santos é
Psicólogo e Mestre em Psicologia (UFPA) e Doutorando em Ciências
Sociais (UFPA). |