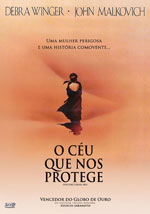|
|
"O Céu Que Nos Protege",
de Bernardo Batolucci
(Grã-Bretanha/Itália, 1990)
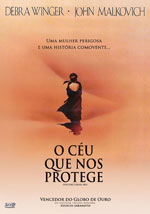
Benjamin
e Bertolucci
Para
Pablo e Rosângela, que assistiram o filme
Para Deise, que ainda assistirá
Walter
Benjamin, nas notas preparatórias às Teses Sobre
O Conceito da História, fala que as revoluções,
no lugar delas serem as locomotivas da humanidade, que elas são
provavelmente o freio da história; que as revoluções
vêm abortar o caminho do progresso, que nos levaria não
a futuras evoluções, mas sim a um confronto inevitável
com a barbárie.
Benjamin inverte a imagem comum do progresso como uma locomotiva que
caminha para a frente ao melhor dos mundos possíveis: o progresso
passa a ser então representado como uma locomotiva descontrolada
que conduz à barbárie; ainda a imagem da locomotiva,
mas uma locomotiva condenada ao desastre, à catástrofe,
ao confronto com o abismo ou ao choque com as forças históricas
destrutivas mobilizadas pelo próprio progresso.
A crítica de Benjamin, que de certa forma inverte o raciocínio
marxista, de que as revoluções, ou a revolução,
sejam uma conseqüência do desenvolvimento das forças
produtivas - o que é uma visão progressiva da luta de
classes - é uma crítica também à modernidade:
o progresso é a razão de ser da própria modernidade;
sobre o progresso a modernidade construiu as bases de seu discurso;
sobre a idéia do progresso a modernidade afirmou sua identidade,
se construiu frente ao passado, apontou caminhos de continuidade para
seu processo vertiginoso em direção a algum lugar -
que se revelou ser lugar nenhum.
Um dos efeitos colaterais da sociedade capitalista, principalmente
da modernidade capitalista, foi o esvaziamento das relações
humanas, a mecanização dos afetos e a massificação
do tédio, tão bem percebido por Baudelaire em alguns
poemas de As Flores do Mal. A atomização dos sujeitos,
a despotencialização das interioridades dos indivíduos
são tantos outros efeitos colaterais. As pessoas isolam-se
em suas redomas sociais e dentro de suas redomas sociais isolam-se
em seu próprio vazio:o mundo capitalista é o mundo da
quase absoluta incomunicabilidade; é uma alegoria kafkiana.
Bernardo Bertolucci também é um crítico feroz
da sociedade burguesa e das relações marcadas pelo conformismo:
quem assistiu O Último Tango em Paris sabe o que estou
dizendo. Mas, para mim, onde ele faz uma das maiores críticas
à sociedade burguesa e ao ideal de progresso é no filme
O Céu Que Nos Protege, baseado no livro do escritor
norteamericano Paul Bowles.
O filme conta a história de um casal norteamericano - ele,
compositor de música erudita; ela, escritora -, que resolve
viajar até o Marrocos numa tentativa de ressuscitar, retomar
uma relação que mostra-se desgastada, e junto com o
casal vai um amigo, que revela-se um obstáculo para a retomada
da paixão amorosa.

Já na abertura do filme, enquanto o letreiro vai passando,
vão sendo mostradas imagens da New York dos anos 40 - época
em que se passa o filme -, com direito a todos os ícones do
progresso: fornos elétricos, máquinas de lavar, cidade
moderna, casais dançando, distribuição de peixes
no mercado... enfim, amostras do cotidiano moderno e progressivo da
América; já no fim da abertura, a última imagem
a aparecer é a de um navio que se afasta lentamente da baía
de Manhattan, como a se despedir de todo esse mundo moderno.
A viagem de Port e Kit Moresby - o casal em crise -, é um afastamento
consciente da modernidade, dos valores burgueses; o destino, o Marrocos,
a África bérbere; depois, a África negra. A tomada
seguinte à abertura é que mostra os viajantes chegando
ao Marrocos, ao som de uma música árabe: a paisagem
que se vê é o oposto da asséptica paisagem nova
iorquina, é o outro, o não moderno.
Mas o que nos interessa, num primeiro momento, é a cena em
que, instalados num restaurante de Casablanca, Port, Kit e o amigo
conversam; Port começa a contar, sob a forte oposição
de Kit, o sonho que tivera na noite anterior. No sonho, ele estava
num trem que corria célere em direção a uma montanha
de lençóis, contra a qual o trem vai se chocar. Port
fala que quebra todos os dentes,que pareciam de gesso e começa
a chorar, ele conta, terríveis soluços de sonhos, que
se ouviam à distância. Quando Port está a contar,
todos do restaurante param para ouví-lo, como se o sonho dissesse
respeito a todos e a cada um deles.
O sonho de Port nos interessa duplamente e nos parece que ele tem
uma dupla função: ele anuncia o destino de Port - o
trem que corre infindavelmente para um beco sem saída - e é
ao mesmo tempo uma alegoria do progresso e da modernidade, que conduz
todos à catástrofe; progresso do qual Port tenta fugir,
modernidade a qual ele quer esquecer. Pois é disso que trata
a viagem à África: a busca de uma reconciliação
amorosa através do esquecimento da modernidade, da civilização:
pois quando Port percebe que Kit, sua mulher, teve ou está
tendo um caso com o amigo que veio com eles - Turner, um milionário
americano típico, representante perfeito do american way
of life -, Port cada vez mais adentra no território africano,
até morrer de tifo num forte da Legião Estrangeira no
meio do deserto do Saara.
As analogias entre o pensamento de Benjamin e sua representação
do progresso como uma locomotiva desgovernada que nos conduzirá
à catástrofe e o sonho de Port, no filme do Bertolucci,
são mais que pertinentes: na seqüência do filme,
após a morte de Port, Kit segue com uma caravana bérbere
pelo deserto, e encontra o tipo de sociedade primitiva que, segundo
Michael Lowy, Benjamin achava que tivesse precedido o Estado e as
sociedades de classes; as relações nessa sociedade são
outras - Kit encontra uma sexualidade pura, primitiva e sem culpas,
justo ela que se preocupava com o que diria a costa leste quanto ao
sonho de Port.

A imagem do sonho de Port - o desastre do trem, que é também
o desastre da civilização e da sua própria vida
-, se contrapõem às imagens do mundo que Kit encontrará.
Contra a arquitetura das linhas retas de Nova York, as curvas das
dunas; contra o jazz, o bebop e o swyng, cantos bérberes e
transe estático; contra Port, expressão máxima
da civilização da qual ele mesmo quer fugir, o bérbere
anônimo, que sem cerimônia faz a corte à Kit.
Port sonha, prevê sua própria desgraça ao sonhar
com o trem que se chocará com as montanhas. Como falei, ele
é um representante da civilização que ele nega:branco,
norteamericano, compositor de música erudita; por isso que
ele é tão crítico, ele conhece os valores que
ele rejeita. A imagem do sonho é a imagem do nosso próprio
destino enquanto civilização, por isso que quando Port
começa a contar o sonho, todos param para ouví-lo, pois
aquele é o destino comum a todos os que estão ali: ou
verem o choque do trem com o futuro ou tentarem mudar o curso da história.
Após a morte de Port - o choque do trem -, Kit segue uma caravana
bérbere e com eles vai passar a viver: uma comunidade onde
o dinheiro não importa, onde as relações têm
um caráter primitivo - no sentido de puro -, uma sociedade
pré-capitalista, tal como as idealizadas por Walter Benjamin
e descritas por Bachofen. A viagem de Kit é uma viagem em direção
ao passado: à medida em que ela se afasta da civilização,
ela penetra numa sociedade que é quase uma encarnação
de um inconsciente histórico: relações baseadas
no parentesco, à base de trocas, onde o dinheiro não
é o determinante das relações sociais. Kit se
dirige ao mundo que Port procurava, não ela.
A narrativa de O Céu Que Nos Protege é uma
das mais belas da história do cinema: as tomadas panorâmicas,
os planos longos, a música melancólica, as paisagens
deslumbrantes, ajudam a contar essa que é uma história
de amor e de busca de si mesmo. Port procura reencontrar o amor de
Kit, ao mesmo tempo que procura se afastar da modernidade, do progresso.
Ele procura pular do trem do progresso, evitar a catástrofe,
que acaba se consumindo em sua própria morte.
Nós, indivíduos, que somos também sujeitos históricos,
nós não podemos pular do trem da história: nossa
historicidade está colada a nós como uma pele, a qual,
se arrancarmos, expõe nossas vísceras e nos deixa à
morte. A única direção na qual podemos caminhar
é a do futuro: nos apropriamos do passado como um feixe de
lembranças - revolucionárias ou não -, que nos
servem como uma alavanca; nossa matéria é o presente,
mas nosso ideal é o futuro.
Quando Kit aparece, já no fim do filme, como alguém
que está saindo de uma crise de loucura, com tatuagens nas
mãos e nos pés, é a imagem de alguém que
tentou pular para fora da história, de sua própria história,
e, é claro, não conseguiu; ela perde sua identidade,
ao tentar encontrar um sentido para tudo o que ela passou.

Não li o livro do Paul Bowles, que deu origem ao filme, e nem
quero dizer que foi intencional, da parte do Bertolucci, se utilizar
dessa metáfora benjaminiana: mas os paralelos são pertinentes
e todo o filme vai sendo construído em torno dessa metáfora
da viagem do trem, que é a imagem também de um distanciamento,
mas que leva a uma catástrofe; também o distanciamento
do mundo vazio da civilização, essa gaiola de ouro que
nos prende com seus visgos: basta lembrar que Kit voltará para
a civilização, apesar de tudo. Acho que não é
à toa que Kit tem medo da viagem de trem, como se o trem fosse
o anunciador da desgraça.
Mas é uma dramática história de amor e sexo.
Uma das mais belas cenas românticas que já vi, é
a cena em que Port, à beira da morte, diz que só agora
via que toda a razão de sua vida era amar Kit, e que tudo que
fazia era por ela: essa cena tem uma carga dramática muito
grande, porque mistura amor e morte, eros e tanatos estão unidos
no coração de Port.
II
A imobilidade do céu é o símbolo da própria
natureza atemporal, desse locus que permanece frente ao universo dinâmico
da cultura; a natureza é uma constante, ainda que não
o seja em relação a ela mesma. O céu que nos
protege é a natureza imóvel frente à modernidade,
é o elemento fora das turbulências da civilização
e também das turbulências dos sujeitos.
O filme inteiro é de uma beleza pungente: os diversos elementos
se combinam de modo perfeito - os estados interiores das personagens,
as paisagens, o ambiente - , a fuga e ao mesmo tempo, busca, de Port,
tentando (re)encontrar o amor e se afastar da civilização,
o encontro de Kit com uma sociedade quase atemporal e com uma natureza
que é, frente à civilização, uma permanência
e, ao mesmo tempo, um refúgio. Aliado a esse discurso,uma trilha
sonora excepcional, que reforça a sensação de
estar fora do tempo, pular para fora da história. Sem falar
na atuação excepcional de John Malkovich e Debra Winger.
Walter Benjamin, de maneira brilhante, fez a crítica da modernidade
e, em suas Teses Sobre O Conceito da História, criticou a noção
de progresso, apontando a saída revolucionária como
um salto para fora dos trilhos do progresso, unindo dialeticamente
o passado e o futuro dos oprimidos através desse corte na história
que a revolução representa; Bertolucci também
nos apresenta um salto para fora da história, através
dessa fuga, do afastamento do vazio da civilização feita
por Port e Kit, numa tentativa desesperada de encontrarem um sentido
para suas vidas.
Porque sob o céu que nos protege, só nós podemos
encontrar e construir o sentido das coisas, seja através da
redenção revolucionária ou da fusão erótica-amorosa,
vias transformadoras capazes de fazerem com que a roda da história
gire a nosso favor, seja sob a trilha acidentada do tempo, sobre as
areias de um deserto ou sob um céu que nos guarda de todas
as mazelas.
Gledson
Sousa é graduando em História da UNICSUL
(Publicado
originalmente no site http://aesferadamanha.blogspot.com,
no dia 13/12/2007)
.
|
|