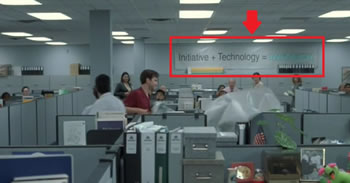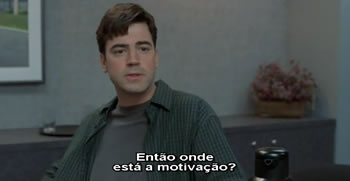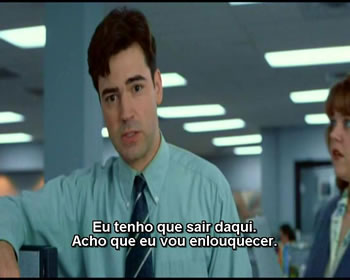|
|
“Como
Enlouquecer seu Chefe”, de Mike Judge
(EUA, 1999)

“O
insustentável peso do trabalho”
O
título do presente artigo é a tradução
luso-portuguesa para o filme Office Space, uma comédia
norte-americana de 1999, escrita e dirigida por Mike Judge criador
de “Beavis & Butthead” e co-criador da série
“King of the Hill”. Baseado na série de caricaturas
“Milton” do próprio Judge, no Brasil Office Space
- que na tradução literal seria algo como “O espaço
do escritório”, “espaço de trabalho”
- ganhou a tradução de “Como enlouquecer seu chefe”,
e deu ao filme, de antemão, o título supostamente ideal
para a chancela de uma obra cinematográfica do gênero
comédia, pois já anuncia previamente ao espectador o
que esperar deste. A julgar por este ensaio, creio que o título
lusitano O insustentável peso do trabalho, me soa mais confortável
e também confere maior veracidade à narrativa tragicômica
proposta pelo brilhante sarcasmo de Mike Judge. Neste breve ensaio
sobre a obra em questão focamos nossas atenções
para a personagem principal Peter Gibbons (Ron Livingston) e para
a forma com que ele lida com seu trabalho de maneira geral, seja com
seus companheiros de companhia, com ex e atual namorada (Jennifer
Aniston), seja levando esse tedioso cotidiano à sua vida pessoal
mesmo que de forma inconsciente. Sendo assim, neste pequeno ensaio
crítico, buscamos apresentar alguns temas que possam ser de
utilidade para uma crítica da sociedade burguesa na perspectiva
do mundo do trabalho capitalista visto pela ótica do cinema.
Na Grécia antiga, a tragicomédia era um subgênero
teatral que alternava ou mesmo misturava comédia, tragédia,
farsa e melodrama, podendo ser encontrada em diversas peças,
como por exemplo, o Alceste de Eurípides (485 a.C. - 406 a.C.),
que, em razão do seu "final feliz" e pelo tom levemente
humorístico de algumas passagens, é vista por alguns
eruditos como um drama satírico ou uma tragicomédia
- mais do que uma tragédia. Algumas peças de Shakespeare
(1564 -1616), como O Rei Lear, tem muito da tragicomédia, de
forma que a ironia e a comicidade contribuem para a maior riqueza
de significados do texto. Porém é somente no século
XX, com o teatro do absurdo, que a utilização do riso
não necessariamente exclui a profundidade dramática,
o que fez com que o cinema se apropriasse e utilizasse desse recurso
tragicômico em muitos momentos de sua história como bem
podemos nos lembrar do Carlitos de Charles Chaplin que usou o humor
com maestria para satirizar a precarização do trabalho
operário nas fábricas do início do século
XX em seu famoso “Tempos Modernos”.
Mike Judge então se utiliza do recurso tragicômico para
compor a narrativa de “O insustentável peso do trabalho”
buscando ironizar a vida no trabalho de uma típica companhia
de desenvolvimento de softwares durante o final da década de
90, focando na exaustão e na fadiga dos indivíduos que
estão cheios do seu trabalho. Filmado em Austin e Dallas, dois
pólos tecnológicos e computacionais do Texas nos Estados
Unidos, o filme traça um quadro da ordinária vida dos
trabalhadores da área de tecnologia da informação
no país, representados através da figura de seu protagonista
Peter Gibbons (Ron Livingston), que a certa altura da história,
busca ajuda de um ‘hipno-terapeuta’ devido ao estresse
ocasionado por seu trabalho tedioso e rotineiro. Peter passa então
a sabotar seu trabalho, agindo da forma que bem entende, porém
suas atitudes o levam a ganhar uma promoção, bem como
a diversos desfechos mirabolantes na trama.
Faz-se importante entendermos o contexto o qual o filme foi idealizado
e produzido. Peter e seus companheiros de profissão são
funcionários da Initech - sigla esta que em determinado momento
do filme, ficamos sabendo por meio do que se lê em uma faixa
fixada ao fundo do saguão da empresa que significa “Iniciativa+Tecnologia
= Initech” – uma empresa do ramo de Tecnologia da Informação
(TI) que em seu momento atual, 1999, encarrega os programadores Peter
Gibbons, Michael Bolton e Samir Nagheenanajar de cuidarem do problema
“Bug do Milênio” ou “Bug Y2K” previsto
ocorrer em todos os sistemas informatizados na passagem do ano de
1999 para 2000.
“Bug”
é um jargão internacional usado por profissionais e
conhecedores de programação, que significa um erro de
lógica na programação de um determinado software.
No final do século passado, todas as datas eram representadas
por somente 2 dígitos, os programas assumiam o "19"
na frente para formar o ano completo. Assim, quando o calendário
mudasse de 1999 para 2000 o computador iria entender que estava no
ano de "19" + "00", ou seja, 1900. Os softwares
mais modernos, que já utilizavam padrões mais atuais,
não teriam problemas em lidar com isso e passariam corretamente
para o ano 2000, mas na época constatou-se que uma infinidade
de empresas e instituições de grande porte ainda mantinham
em funcionamento programas antigos, em função da confiança
adquirida por anos de uso e em sua estabilidade. Para além
disso, temiam-se os efeitos que poderiam ser provocados no hardware
pelo sistema BIOS, caso este reconhecesse apenas datas de dois dígitos
pois caso as datas realmente "voltassem" para 1900, clientes
de bancos veriam suas aplicações dando juros negativos,
credores passariam a ser devedores, e boletos de cobrança para
o próximo mês seriam emitidos com 100 anos de atraso.
O temor causado pelo “Bug do Milênio” na época
motivou uma renovação em massa dos recursos de informática
(tanto de software como de hardware) e houve uma louca corrida para
corrigir, atualizar e testar os sistemas antes que ocorresse a mudança
do milênio. No entanto, houve poucas falhas decorrentes do “Bug
do Milênio”, que se revelou quase inofensivo apesar de
ter gerado uma onda de pânico coletivo, especialmente nos países
nos quais os computadores estavam mais popularizados. O assunto gerou
muita polêmica devido aos grandes lucros gerados para as empresas
de informática, foi alvo de matérias copiosas na imprensa
e deu origem a filmes como o caso deste que estamos tratando. Hoje,
o “Bug do Milênio” é considerado como um
dos casos registrados pela história de pânico coletivo
vazio de fundamentos, uma versão moderna do "temor do
fim do mundo" que acometeu os povos da Europa Medieval na virada
do ano de 999 para 1000. Caso este male tivesse de fato ocorrido da
forma como foi premeditado teríamos tido uma crise do capital
financeiro que poderia desmoronar seus “castelos de areia”.
Esta mudança permanente das tecnologias da informação
é um dos traços marcantes que reestruturaram o mundo
do trabalho nos anos 90, o que criou organizações flexíveis
e inventivas que buscaram adaptar-se a todas as transformações
informacionais, dispondo sempre de um pessoal, dotado de capital intelectual,
à frente dos concorrentes em termos tecnológicos. Tal
atenção obsessiva à adaptação,
à mudança, à flexibilidade assenta uma série
de fenômenos que marcaram profundamente este período
neoliberal.
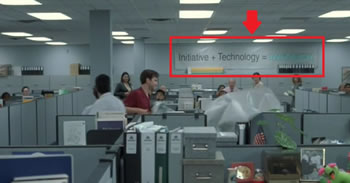
Desgostoso e entediado com seu trabalho, após a breve seção
com o ‘hipno-terapeuta’, o Dr. Swanson – o ator
Mike McShane faz uma caricatura dos pseudo-terapeutas espalhados por
aí – o protagonista Peter Gibbons cria mecanismos próprios
de resistência para sabotar seu cotidiano de trabalho. Bendassolli
(2009) nos diz que mesmo existindo uma completa submissão sugestiva
sob outros aspectos, a consciência moral do trabalhador pode
apresentar resistências. Isso se dá por certo conhecimento
de que o que está acontecendo seja apenas um jogo, uma reprodução
inverídica de outra situação muito mais importante
na vida, levando-o ao tédio e à fadiga no trabalho.
Para
a compreensão de tais mecanismos relacionados ao tédio
de Peter referente ao seu trabalho, utilizamo-nos de explanações
feitas pelo filósofo norueguês Lars Svendsen (2006),
que nos diz que o tédio é um fenômeno que surgiu
no período moderno porque, é nas sociedades modernas
que se está cada vez mais difícil encontrarmos um sentido
para a existência. Bendassolli (2009) fala que o tédio
está ligado à dificuldade de o indivíduo encontrar
motivos para agir. Refere-se à falta de propósito, à
sensação de vazio existencial. Em termos psicanalíticos,
é a ausência de investimentos em objetos externos ao
sujeito. Ou seja, é como se nada que estivesse no mundo pudesse
chamar a atenção do indivíduo, despertando seu
desejo.
Fazendo divisa com a melancolia e a depressão, o tédio
é um sentimento difuso, mas não necessariamente patológico.
Ainda de acordo com Svendsen (2006), o tédio surge normalmente
quando não podemos fazer o que queremos ou temos de fazer o
que não queremos. Em ambos os casos, o que está em jogo
no tédio é a irreconciliação entre prazer
e obrigação.
Bendassolli (2009) prossegue dizendo que se, de um lado, o prazer
é um estado de fruição e normalmente ocorre quando
há uma coincidência entre desejo e realização
(querer algo e consegui-lo), as obrigações, por outro,
têm a ver com exigências alheias, não necessariamente
condizentes com o que o indivíduo deseja ver realizado, como
no caso de Peter que não adere às filosofias de gestão
da Initech, pois não partilha das mesmas idéias que
são perpetuadas nos corredores da empresa por meio das políticas
burocráticas ‘non-sense’ de seu chefe Bill Lumbergh
(Gary Cole) que ficam explícitas no filme com o exemplo jocoso
dos “relatórios T.P.S.” que no filme, ninguém
sabe exatamente para o que serve, muito menos o próprio Lumbergh,
que apenas exige que tais relatórios devam conter novas capas
de apresentação segundo memorando interno enviado aos
funcionários. Na verdade um relatório T.P.S. (Testing
Procedure Specification) é um documento usado em engenharia
de software, em especial por um software de Garantia de Qualidade
de grupo ou individual, que descreve os procedimentos de um teste
e o processo deste teste.
Conseqüentemente,
o tédio é a maneira de resistência a qual Peter
se apercebe por reagir às obrigações externas,
a estímulos previamente codificados e impessoais, por justamente
não ter o poder para determinar o curso das coisas de acordo
com sua própria vontade, ou então quando é demasiado
frustrado por aquilo que Freud chama de princípio de realidade.
Daí que o tédio, na descrição de Svendsen
(2006), expressa a idéia de que dada situação
ou a existência como um todo são profundamente insatisfatórias.
Desta forma, Peter decide então não ir mais ao trabalho.
Quando vai chega atrasado, faz mudanças em sua mesa, veste
a roupa que quer, sai para pescar no meio do expediente, e assume
uma postura anti-hierárquica diante de seu chefe, o que envolve
situações de ordem moral nesta clássica relação
empresarial de dominantes-dominados. Embora a hierarquia seja o alvo
favorito de Peter, ele também faz ataques inconscientes à
planificação da Initech, retratada como uma companhia
rígida e baseada em dados quantitativos frios, que não
expressam a “verdadeira realidade” que ele busca, e a
todas as instâncias associadas à autoridade, como seu
chefe.
Dejours (1991) nos diz que as frustrações provenientes
do pouco conteúdo significativo do trabalho toyotista, podem
ser uma fonte de grandes esforços de adaptação.
“É do contato forçado com uma tarefa desinteressante
que nasce uma imagem de indignidade. A falta de significação,
a frustração narcísica, a inutilidade dos gestos,
formam ciclo por ciclo, uma imagem narcísica pálida,
feia, miserável (...) a vivência depressiva condensa
de alguma maneira tais sentimentos de indignidade, de inutilidade
e de desqualificação, ampliando-os” (p. 49).
Durante o trabalho, vários elementos contam na formação
do ideal de eu. No que diz respeito à relação
do homem com o conteúdo “significativo” do trabalho,
podem-se considerar, dois componentes: o conteúdo significativo
em relação ao indivíduo, que é a significação
da tarefa acabada em relação a uma profissão
(noção de aperfeiçoamento pessoal); e o conteúdo
significativo em relação ao Objeto em que o trabalho
comporta, ao mesmo tempo, uma significação narcísica,
onde ele pode suportar investimentos simbólicos e materiais
destinados a um objeto exterior como o caso da produção
assumindo funções sociais, econômicas e políticas.
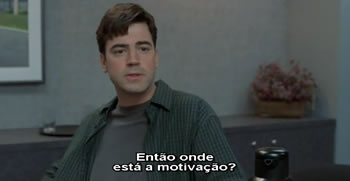
Se na tradição greco-romana, a liberdade e o status
de um homem eram medidos pela quantidade de ócio de que dispunha,
onde ter ócio era ter liberdade para dedicar-se a atividades
enobrecedoras e espiritualmente elevadas, conformes ao próprio
espírito e inclinações, os homens que tratavam
de (neg)ócios eram, literalmente, “negadores do ócio”.
O que Peter faz em sua “sabotagem ao trabalho” é,
portanto um retorno ao ócio greco-romano, pois ele nega o neg(ócio)
para ter de volta o ócio primitivo.
Sabe-se que, com o advento do capitalismo, o trabalho se torna uma
atividade enfadonha, árdua e penosamente repetitiva para a
maioria dos trabalhadores. No tomo I do “O Capital”, Marx
(1988) denunciou a alienação provocada pelo trabalho
sendo esta a conseqüência de o indivíduo não
encontrar qualquer sentido no trabalho que realiza tamanho estranhamento
que tem com este. Nos "Manuscritos Econômico-filosóficos"
(1844), Marx tratou deste "trabalho estranhado" como sendo
a característica essencial da atividade do trabalho na sociedade
capitalista. Para Alves (2006), na medida em que o processo de trabalho
é processo de valorização, seja no espaço
da fábrica ou no espaço do escritório, o trabalho
aparece como trabalho estranhado (o homem que trabalha está
alienado do produto e do processo da sua atividade de trabalho, além
de estar alienado de si e dos outros). Esta é a condição
do trabalho na sociedade burguesa e é por isso que no filme
tal alienação das personagens não se dá
apenas no ambiente interior da empresa, mas também na vida
cotidiana e nas relações sociais, pessoais ou afetivas.
Assim, o problema que logo ficou claro para as empresas e seus “gestores”
já no início do capitalismo industrial era como fazer
as pessoas se engajarem em seu trabalho a despeito de este lhes causar
profundo tédio e estranhamento cada vez mais profundo. Para
Bendassolli (2009), seria difícil, senão impossível,
extrair o quantum de produtividade necessário ao desenvolvimento
capitalista sem o compromisso intenso dos funcionários (com
os horários, a cadência das máquinas, as condições
ambientais insalubres, as exigências bizarras e as excentricidades
dos “gestores” etc.). Nesse ponto começou a se
consolidar uma engenhosa estratégia anti-tédio no mundo
capitalista ocidental: a idéia de que o trabalho é,
dentre atividades humanas, a mais enobrecedora e importante, e de
que as empresas são ambientes altamente ricos em cultura e
significado. A Initech demonstra-nos partilhar desta concepção
em diversas passagens do filme, como quando o chefe Bill Lumbergh
em reunião coletiva para apresentação dos consultores
contratados para avaliarem a empresa, diz aos “colaboradores”
que se forem tomar uma decisão, devem sempre pensar conforme
a faixa afixada no saguão da empresa “isto é bom
para a companhia?” excluindo-se assim o pensamento singular
das subjetividades.
É
graças a esse sentido compartilhado, ao qual todos aderem que,
cada um sabe aquilo que deve fazer sem que ninguém precise
mandar. Imprime-se com firmeza uma direção, sem ser
preciso recorrer a ordens, e o pessoal pode continuar a autogerir-se.
Nada é imposto ao trabalhador, pois ele adere ao projeto. Para
Boltanski (2009), a cultura e os valores da empresa, o projeto da
empresa, a visão do líder, a capacidade do dirigente
empresarial de “compartilhar seu sonho” são meios
auxiliares que devem favorecer a convergência dos autocontroles
individuais, controles exercidos por cada um sobre si mesmo, de modo
voluntário, tendo todos mais probabilidade de permanecer coerentes
entre si, visto que são inspirados por uma mesma fonte original,
no caso de Peter, seu chefe e os consultores da empresa.
Neste sentido, a Initech enquadra-se como uma organização
toyotista do trabalho capitalista que busca “capturar”
o “fazer” e o “saber” de Peter e seus colegas,
solicitando destes uma disposição intelectual-afetiva
voltada para cooperar com a lógica da valorização.
É com a presença dos Bob´s, os consultores que
são chamados para avaliarem o trabalho desempenhado na Initech,
que notamos a afirmação da política toyotista
da empresa que visa, portanto essa captura da subjetividade de Peter
e seus companheiros de trabalho, tendo como objetivo uma integração
do pensamento dos “colaboradores” aos interesses da empresa,
como se ambos fossem portadores de interesses comuns.
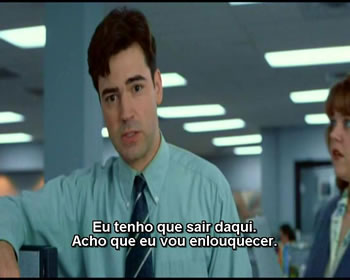
Tais ferramentas de gestão utilizadas pelas empresas toyotistas
de trabalho se valem da mobilização do que, em psicanálise,
é chamado de ideal de eu. Trata-se de simplificar ao máximo,
daquilo que temos de alcançar de qualquer modo para nos sentirmos
completos, realizados. Bendassolli (2009) diz que a dinâmica
do ideal de eu é ditada por estratégias como a transação
em que a organização promete compartilhar com o indivíduo
seu sucesso.
É o caso quando Bob Slydell (John C. McGinley) e Bob Porter
(Paul Willson), os dois consultores contratados por Bill Lumbergh,
são introduzidos na história com o intuito de avaliarem
os desempenhos dos trabalhadores da Initech. Normalmente a literatura
da gestão capitalista coloca a figura dos consultores de empresas
como “gurus” recheados de cursos e especializações,
dotados de um saber incontestável e que geralmente têm
as respostas para todo tipo de problema relativo à organização
da empresa toyotista. No filme em questão, os consultores são
postos da mesma forma que os encontrados nas literaturas gerenciais,
porém em nenhum momento sabemos de onde eles vêm, o que
de fato atesta seus saberes e são ironicamente colocados como
profissionais débeis, de pouca capacidade de simbólica,
ignorantes e também sempre dispostos a gozarem do sofrimento
alheio por meio das demissões de alguns funcionários.
“Bob´s - os consultores”: Bob Slydell (John C. McGinley)
e Bob Porter (Paul Willson)
Segundo
Gaulejac (2007), a maioria destes manuais de gestão desenvolve
o pressuposto de que a organização é um conjunto
de fatores em interação um com os outros, ressaltando-se
um fator que apresenta problemas particulares: o “fator humano”.
Daí a colocação em prática de um departamento
especializado para lidar com este fator, chamado de “recursos
humanos”, que tem suas características específicas
bem expressas pelos dois consultores do filme. Conforme visto na atuação
destes consultores, este “recurso humano” – o trabalhador
- torna-se então um objeto de conhecimento e preocupação
central da diretoria o que faz com que esta solicite os serviços
“especializados” dos consultores. O triunfo da ideologia
da gestão necessita de tais agentes para se legitimar e que
buscam constantemente uma interpretação do trabalhador
enquanto um agente ativo do mundo produtivo de forma que os improdutivos
são rejeitados, como os casos dos amigos de Peter: Michael,
Samir, Tom e Milton.
Portanto, o papel dos consultores na Initech vai de encontro com a
idéia que a literatura gerencialista tem de “gestão
de pessoas”, implicando em disseminação de valores,
sonhos, expectativas e aspirações que emulem o trabalho
flexível. Como vemos com o desfecho da trajetória de
Peter na Initech, não se trata apenas de administrar recursos
humanos, mas sim, de manipular talentos humanos, no sentido de cultivar
o envolvimento de cada um com os ideais (e idéias) da organização.
A conclusão à qual os consultores chegam ao caso de
Peter, é compatível com os ideais da nova empresa capitalista
que busca homens idealistas e anseia pela juventude que trabalha,
tendo em vista que os jovens operários e empregados têm
uma plasticidade adequada às novas habilidades emocionais (e
comportamentais) do novo mundo do trabalho. Sendo assim, Peter é
o único dos funcionários da Initech que entra na sala
para a reunião com os consultores de maneira desinteressada
e lhes diz que se cansou de seu trabalho, pois não encontra
mais sentido e motivações em fazê-lo. Os consultores
passam por cima das opiniões do chefe de Peter, Bill Lambergh
e encantam-se com ele por sua ousadia e sinceridade decidindo promovê-lo.
O trabalho de Peter é apreendido por ele então como
um objeto social ou um fato social que faz parte de seu mundo e que
ele têm de construir um repertório de significados mesmo
sem querer fazê-lo. Bendassolli (2009) diz que o conjunto de
crenças e conhecimentos sobre o trabalho influencia nas atitudes
e posicionamentos que o indivíduo têm em relação
a ele. Com isso, Peter passa a compreender seu trabalho não
mais como algo do qual ele necessite para sua sobreviência,
mas propõe uma inversão de papéis a partir da
avaliação feita pelos consultores onde, agora é
o seu locus de trabalho que necessita dele.
Ora, se dissemos acima que o tédio de Peter se dava por não
encontrar motivações em seu ambiente exterior, a partir
de então nosso protagonista abandona seu ideal de ego e o substitui
pelo ideal do grupo, corporificando-se na figura de um líder,
exemplo a ser seguido segundo Bob´s, os consultores. A escolha
dos consultores pela promoção de Peter explica-se pelo
o que Freud (1996) nos diz sobre a seleção do líder
em um grupo, que é comumente facilitada por circunstâncias
que envolvam que esse líder possua qualidade típicas
dos indivíduos interessados sob uma forma pura, clara e particularmente
acentuada, necessitando somente fornecer uma impressão de maior
força e de mais liberdade de libido. Ou seja, por enfrentar
os pressupostos culturais da Initech é que Peter é visto
pelos consultores como este Ego Ideal.
O Ego Ideal, segundo Costa (1991) é dotado de um pensamento
onipotente e de todos os poderes soberanos investidos narcisicamente
tendendo a preservar a “imortalidade do ego” e aquilo
que ele imagina ser a sua “essência”, no presente.
Este ego ideal não reconhece o sujeito como sujeito da falta,
tentando a todo custo manter “íntegra a representação
da unicidade e continuidade do sujeito”, só aceitando
um outro na medida em que este se apresenta como uma “reedição
inflacionada de um traço de sua forma passada ou presente,
isto é, um outro idêntico” (p. 120) logo, narcísico.
Peter Gibbons após sua promoção muda de postura
tornando-se o Ego Ideal.
É
guiado por esta imagem constitutiva do Ego Ideal que Peter, acossado
por sentimentos de “impotência/desamparo” frente
à realidade externa, desinveste sua libido dos ideais e dos
objetos e aciona os mecanismos de autodefesa, refugiando-se neste
ego narcísico. Por outro lado, o recurso ao Ego Ideal utilizado
por ele consiste numa saída que envolve uma renúncia
do enfrentamento da realidade e um fascínio por um “objeto-engodo”
– no caso, o não-trabalho - que o encerra num pseudo-estado
a-conflitivo mediante o processo de “idealização”
deste novo caminho tomado.
A partir de então, Peter assume seu novo cargo dentro da Initech,
o que não significa que tenha conseguido romper com o sistema
do capital, mas sim tornar-se o funcionário “flexível”
tão enaltecido pelas empresas toyotistas. Contudo, Peter permanece
com sua revolta contra a companhia e propõe a seus colegas
recém-desempregados, Michael e Samir uma sabotagem no sistema
financeiro da empresa por meio de um vírus de computador criado
e implantado por Michael que roubaria centavos das transações
financeiras da companhia.
Após
algumas desventuras no plano arquitetado pelos três cientistas
da computação, Peter retorna a seu estado de ideal de
eu como um ser que tem o desejo de uma vida digna e com um trabalho
que lhe traga significado. Desta forma, o filme tem um desfecho original
colocando uma vitória pessoal de Peter frente ao Sistema representado
pela Initech, pois nas palavras do próprio protagonista, “A
Initech é errada. A Initech é uma corporação
má”.
Antes de concluirmos este ensaio faz-se necessária incluir
a participação da personagem “Milton” (Stephen
Root) que além de ser o título original das tiras animadas
criadas por Judge e que inspiraram Office Space, é também
a personificação do trabalhador já acometido
por patologias muito provavelmente oriundas desta forma de organização
e de divisão do trabalho da empresa toyotista. O exótico
Milton é um funcionário da Initech que foi despedido
há cinco anos antes do tempo em que se passa o filme, só
que devido a problemas no setor financeiro da companhia ele continuou
indo ao trabalho e a receber seu salário normalmente. Milton
apresenta uma fala difusa, déficit de atenção
quando alguém se refere a ele durante um diálogo e tendências
psicóticas ao sempre reproduzir a mesma fala: “eu poderia
colocar fogo nesse prédio”. A história de Milton
não nos é contada durante o filme, porém somos
incitados a pensar que seu estado físico-mental atual é
resultado das pressões psicológicas que ele tenha sofrido
durante sua vida dentro da Initech, bem como por conta de seu processo
de pseudo-demissão.
Enfim, guiado por Bob´s, os consultores, Bill Lambergh decide
apenas cortar o salário de Milton, mas deixá-lo trabalhando
para sua própria diversão, bem como dos consultores.
Sendo esse o fator “gota d´agua” para Milton este
decide finalmente atear fogo à Initech. O episódio incendiário
é comemorado por Peter quase como a um gozo, que também
o vê como uma forma de “redenção”
devido ao roubo que haviam feito com o vírus de Michael. Sobre
as ruínas da Initech, Peter vê outra oportunidade de
encontrar um trabalho que lhe confira um significado pessoal indo
trabalhar recolhendo os destroços da empresa ao lado de seu
vizinho Lawrence (Karl Driedich Bader).
Por
fim, as considerações aqui feitas sobre “O insustentável
peso do trabalho” não esgotam a possibilidade de surgirem
outros elementos para diferentes análises do mesmo, podendo,
através de outros olhares, serem apreendidas novas pistas que
auxiliem na compreensão da sociedade burguesa e do sócio-metabolismo
do capital.
Referências
Bibliográficas
ALVES, Giovanni. Cinema e Trabalho – O mundo do trabalho através
do cinema. Londrina: Editora Praxis, 2006.
BENDASSOLLI, Pedro Fernando. Psicologia e Trabalho – apropriações
e significados. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
BOLTANSKI, Luc, & CHIAPELLO, Ève. O novo espírito
do capitalismo. Tradução Ivone C. Benedetti; revisão
técnica Brasílio Sallum Jr. São Paulo: Editora
WMF Martins Fontes, 2009.
COSTA, Jurandir Freire. “Narcisismo em tempos sombrios”.
In: Tempo do desejo: sociologia e psicanálise. São Paulo:
Brasiliense, 1991.
DEJOURS, Cristophe. A Loucura do Trabalho: estudo de psicopatologia
do trabalho. São Paulo: Cortez-Oboré, 1991.
FREUD, Sigmund. “Psicologia de grupo e análise do ego”,
Volume XVIII. In: Edição Standard Brasileira das Obras
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago
Editora, 1996.
GAULEJAC, Vincent de. Gestão como doença social: ideologia,
poder gerencialista e fragmentação social. São
Paulo: Ed. Idéias e Letras, 2007.
MARX, Karl. O Capital – Crítica da Economia Política,
Livro 1, Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 1988.
SVENDSEN, Lars. Filosofia do Tédio. Trad. Maria Luiza X. de
A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
SOBOLL, L.A.P., BENDASSOLLI, P.F. (orgs.). Clínicas do Trabalho.
São Paulo: Atlas, 2011.
Bruno
Chapadeiro Ribeiro é Psicólogo pela UNESP –
Assis. Durante a graduação fundou o Projeto “Cine
CAPSIA – a linguagem cinematográfica como associação
livre” vinculado ao Centro Acadêmico de Psicologia da
UNESP - Assis. Atualmente é Mestrando em Ciências Sociais
pela UNESP - Marília com a pesquisa: “Trabalho e Gestão
através do Cinema”; atuando também com o Projeto
“Tela Crítica” da mesma universidade.
E-mail: brunochapadeiro@yahoo.com.br
|
|