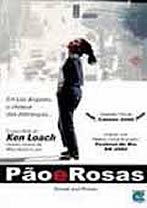|
|
“Pão
e Rosas”, de Ken Loach
(Inglaterra, 2000)
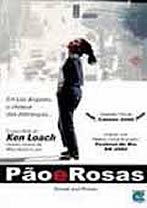
A
situação de miserabilidade a que a dinâmica da
sociedade burguesa expõe a população força
esta última (mediante o recurso da alienação
dos seus meios de produção e reprodução
da vida) à venda, por qualquer preço, da sua força-de-trabalho
em troca de pão, de alimentação, exclusivamente.
As rosas são aí mera abstração. Para tentar
se aproximar delas só com muita luta. Este é, sinteticamente,
o sentido do nome da narrativa fílmica.
O início do filme de Ken Loach retrata uma realidade muito
presente em países periféricos do sistema capitalista.
A lógica do desenvolvimento “desigual e combinado”
explica o intenso deslocamento de pessoas tanto interna (entre regiões
de um mesmo país) quanto externamente (entre países).
O fluxo migratório é assim fato comum em regiões
brasileiras como o Nordeste do Brasil e o Vale do Mucuri, em Minas
Gerais. Nesta última dificilmente se encontra alguém
que não tenha parentes tanto em São Paulo, quanto, tal
como a personagem Maya, nos Estados Unidos da América.
O tema migração tão bem abordado em “Pão
e Rosas”, do ponto de vista sociológico é fato
da maior importância. Aponta algo imanente à sociedade
do capital, sobretudo agora em sua fase mundializada: a desterritorialização.
A classe proletária, desprovida dos meios de sua produção
e reprodução vê-se obrigada a vendê-la,
a quem quer que seja e aonde quer que seja; mesmo que para isso corra
riscos da maior intensidade, como atravessar desertos, negociar com
os terríveis coiotes mexicanos, fugir de policiais de embaixada
etc. Maya, a personagem central, nascida em Tijuana, México,
dá-nos uma idéia precisa desta aventura. Além
de um futuro incerto em terras distantes, a apreensão da família
é outro efeito triste da dinâmica do capital. São
comuns, na região nordeste do Brasil, os casos de “viúvas
de marido vivo”, mulheres que aguardam o retorno dos companheiros
que foram ao trabalho no estado de São Paulo e de lá
não mandam notícias, há décadas.
Marx vê nas greves, mesmo naquelas com tendência trade-unionista,
potenciais lócus de organização política
da classe trabalhadora, além de propiciarem reações
por parte da burguesia, que tendem a responder com equipamentos que
poupam mão-de-obra, insuflando ainda mais a classe trabalhadora
a sair da sua inércia, organizando-se coletivamente para a
luta contra a sua exploração.
Sam Shapiro, um dos articuladores do movimento “Justice for
Janitors”, sabe da dificuldade concreta que é a mobilização
de uma parcela da classe trabalhadora que, imersa na imigração
ilegal, reúne todas as características desejáveis
pelos capitalistas para a extração de níveis
exorbitantes de exploração de mais-valia e espoliação
: baixo nível de escolaridade, estrangeira, ilegal, desarticulada
entre si e predominantemente feminina. Sabe também que sem
o desenvolvimento de um nível mínimo de sentimento de
coletividade por parte dos sujeitos, nenhuma luta é passível
de vitória.
Em tempos de selvagem neoliberalismo, o individualismo mesquinho burguês
é a parede que contem a descrença, o medo, a falta de
solidariedade e o sentimento de fatalismo entre a classe trabalhadora.
Ao invés de se pensar na perspectiva de classe, os proletários
tendem a digladiarem entre si, e a reagir, inicialmente, a qualquer
tentativa de “quebra desta parede” (“Justiça
para Rosa!” , afirma a faxineira Rosa). Numa clara tentativa
de desnaturalizar a precária situação do grupo
de faxineiros da empresa de faxina “Angel”, o jovem militante
aponta historicamente a trajetória da empresa em que trabalham.
Porém, foi a situação limite de abuso a uma das
funcionárias da companhia, praticado pelo autoritário
gerente Perez, que acarretou a procura dos funcionários ao
sindicato. Perez, apesar de latino, volta-se contra aquele grupo,
a que na realidade faz parte. Resposta inteiramente conformista ao
capital, típica pseudo transformação de “oprimido
em opressor”, como nos ensina o mestre Paulo Freire.
O filme também explicita uma dimensão importante do
capital em sua fase global que é o inchaço do setor
de serviços nos países desenvolvidos - atualmente em
torno de 60% da economia norte-americana – trabalho improdutivo
que embora articulado ao capital em seu conjunto, demonstra o quanto
está em segundo plano a produção da riqueza “palpável”,
“real”, na atualidade; fato que influencia sobremaneira
a formação das tão ditas bolhas especulativas.
De modo completamente diverso à dificuldade de entrada de Maya,
para o capital não há fronteiras. Grandes empresas fogem
de qualquer forma e a qualquer momento dos seus principais obstáculos,
sobretudo legislações trabalhistas, direitos sociais
e encarecimento da força de trabalho. Instalam-se simultaneamente
em vários países, impõem uma divisão internacional
do trabalho e determinam o que cada país deve produzir, pagando
irrisórios salários e explorando os trabalhadores de
diversas nações de forma assombrosa. Não há
barreiras! Tendo condições de máxima exploração
e acumulação ele dita a sua dinâmica em qualquer
local, até mesmo no interior dos Estados Unidos, “coração”
do mundo capitalista.
Sam Shapiro, considerando todas estas nuances, começou paciente
e cuidadosamente a organizar os trabalhadores e a auxiliá-los
na sua luta, jamais desconsiderando o conhecimento e vivência
daqueles.
O aparecimento no salão social de um grupo de pessoas tornadas
“invisíveis” pelos seus uniformes de trabalho -
na teoria do esforçado Luiz - incomodou os burgueses como se
aquelas fossem fantasmas. A forma como os sindicalistas se mostraram
tranqüilos na delegacia, no desfecho da segunda manifestação,
demonstrou o quanto já estavam amadurecidos e entendidos com
relação à luta que estavam travando. Atingiram
assim um nível de classe-em-si. A vitória veio, mas
não sem muito sofrimento. Mais que a readmissão na empresa
e a conquista de alguns direitos, a sensação de que
unidos poderiam fazer muito, com certeza alimentou o coração
daqueles trabalhadores anteriormente completamente entregues à
lógica do capital.
A rebeldia e o caráter contestatório das personagens
Maya e Sam devem servir a nós, brasileiros, também como
elemento de reflexão sobre que papel a juventude (bem como
a todos) atualmente tem mostrado enquanto potência para a mudança
social. Nos tempos da ditadura militar em que a restrição
da liberdade (esta em seu sentido mais básico, enquanto direito
de expressão e de ir e vir) se fazia presente, notava-se muito
mais a organização juvenil que nos momentos atuais ,
onde impera a ditadura econômica neoliberal, ditadura do não-trabalho,
do não-reconhecimento do outro como parte de si, ditadura da
invisibilidade daqueles que produzem a verdadeira riqueza palpável
do mundo.
BIBLIOGRAFIA
ALVES, Giovanni. A Precariedade do Trabalho no Capitalismo Global:
curso de extensão universitária. Marília,
SP, 2009.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 47ª Ed. Rio de
Janeiro:Paz e Terra, RJ, 2005.
Alberth Alves Rodrigues é graduando em serviço
social na UFVJM
|
|