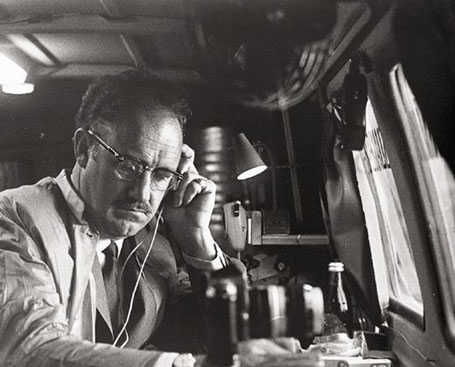|
|
“A
Conversação ” de Francis Ford Coppola
(EUA,
1974)

A
linguagem áudio-visual é, por excelência, uma
linguagem do mundo moderno – (e já chegamos a uma época
em que esta linguagem é cada vez mais produto de máquinas
de informáticas ou cibernéticas que penetram e motivam
horizontes da vida social como um todo).
O cinema é no presente um grande sistema simbólico de
produção e reprodução de conteúdos
acerca do mundo. Bem sabemos, ele tanto desperta e realiza reflexões
intelectuais e estéticas como pode servir para a apropriação,
homogeneização e controle dos comportamentos dos indivíduos.
Ansiamos aqui construir um ensaio crítico a partir da análise
fílmica da obra “The Conversation”, produzida por
Francis Ford Coppola. Nossa oportunidade é, acima de tudo,
lançar questões sobre a questão da técnica
no mundo contemporâneo através das provocações
que suscitam uma ‘leitura’ aprofundada do filme.
O filme de Coppola, da maneira como interpretamos, exibe uma marca
cada vez mais própria da contemporaneidade: a da razão
utilitarista e tecnicista que dirige os indivíduos. Uma racionalidade
limitada ao pensar científico-tecnológico traz o problema
do comando humano de suas dimensões morais e existenciais.
Coppola é, desde os primórdios, sensível às
profundidades dos impasses que a modernidade acarretou ao homem. Quem
acompanhou sua filmografia pôde assistir a filmes como “O
Selvagem da Motocicleta” (Rumble Fish), de 1983, ou “Apocalypse
Now”, de 1979, que fortemente expressam, por assim dizer, o
tema da crise moral-política da modernidade e as irracionalidades
presentes nela. Coppola admirava e foi considerado “produtor
executivo” do filme “Koyaanisqatsi: Life out of Balance”
(EUA, 1982, Godfrey Reggio): um dos mais indicados filmes para a reflexão
sobre a tese do “determinismo tecnológico”.
Se as novas tecnologias, como pensam os filósofos contemporâneos,
autorizam colocar a distinção entre máquinas
e seres vivos – humanos ou não – em um nível
de mera questão de semântica, isto expõe problemas
filosóficos em diversos campos como da ética, estética,
antropologia (possivelmente seria melhor dizer em todos os campos
da filosofia...). Na verdade, a filosofia, desde o início do
século XX, dirige questões filosóficas a respeito
de temas como o racionalismo tecnológico, a tecnocracia e a
decadência cultural e ética, a produção
de simulacros, de realidades virtuais e de diversas transformações
espaços-temporais que alteram as formas de consciência
humanas. Estamos aqui ponderando sobre o que encontramos em pensadores
como Spengler, Simondon, Marcuse, Stiegler, Heidegger, Virilio, Deleuze,
Ortega y Gasset, entre outros.
“The Conversation” é, sem dúvida, uma grande
base para pensar a relação homem-máquina. E a
tarefa de análise do drama fica bem mais interessante e difícil
se explorada neste aspecto. Tanto o roteiro como os temas tratados
são intencionalmente complexos para levantar muitas facetas.
O diretor não lança mão de trabalhar e unir uma
tensa trama investigativa com um personagem introspectivo e em crise
com seu papel social ‘sujo’: o de um grande detetive privado.
O resultado é um genial e convincente filme (ao ponto de gerar
atitudes interpretativas do universo temático atingido: coisa
constante em obras-primas). Reiteramos então a vontade de interpretá-lo,
sem tomarmos tempo demais para contar a ‘sinopse’ para
quem não assistiu o filme.
A década de 1970 marca, talvez, o apogeu e a crise do mundo
da ‘espionagem’. The Conversation está imerso no
centro de uma questão histórica dos EUA – os grandes
escândalos de espionagem (como o de Watergate) são dessa
época. E o envolvimento (de diferentes formas) de eminentes
políticos e empresários no mundo da espionagem ajudou
a trazer a nossa sensação moderna de que “nada
é mais privado”. De que há, por exemplo, um grande
‘negócio’ para o capitalismo tornar as “coisas
íntimas” cada vez mais expostas, expressas – colocando
os estilos de vida na moda.

Relembremos um pouco o drama. Harry Caul (Genne Hackman), o espião
protagonista do filme, vive em uma esfera de fragilidade psicológica
e social degradante. E Coppola introduz com inteligência e dramaticidade
a crise ética experimentada pelo espião. Harry é
um bem-sucedido e famoso entre os seus pares. Este profissionalismo
e respeito entre seus companheiros de trabalho tornavam-o, pois, imerso
na ignorância de qualquer questionamento a respeito de seu trabalho.
Tudo muda quando ele descobre os “motivos” (na realidade,
suposições, pois este será um grande mistério)
da investigação de um casal de jovens em uma praça
pública da qual ele foi contratado. Coppola, em cenas magistrais,
cria uma espionagem em praça pública. Aparelhos tecnológicos
diversos – radares, câmeras, captadores de vozes, gravadores
– produzem uma atmosfera da espionagem logo no início
do filme. Uma equipe, comandada pelo espião Harry, realiza
com sucesso a captura de diálogos do casal Ann (Cindy Willians)
e Mark (Frederic Forrest) na praça abarrotada de pessoas!
A
rotina do cuidadoso espião em suas pesquisa e tratamento dos
materiais coletados é mostrada de forma sutil. Coppola, como
que seduzido pela trama ‘policial’ e, aparentemente, inspirado
por obras como “Blow-up” e “Psicose” (de Antonioni
e Hitchcock, respectivamente) desmiuça a vida profissional
e íntima do personagem dentro de um suspense crescente. O espião
passa a fazer confidência, a buscar redenções
e, principalmente, a tentar interromper o possível assassinato
do casal – em meio a uma situação em que ele próprio
também já está sendo vigiado...
A gravação da conversação de Ann e Mark
traz revelações aterradoras. Ann é filha do grande
empresário que contratou a espionagem. E Harry passa a crer
na “inocência” e “consciência política”
de Ann e Mark. Uma tempestuosa autocrítica fica cada vez mais
explícita. A “conversação” que entra
vertiginosamente na cabeça de Harry é a seguinte:
Ann: Oh look, that's terrible.
Mark: He's not hurting anyone.
Ann: Neither are we.
Ann: Oh God! Every time I see one of those old guys, I-I always think
the same thing.
Mark: What do you think?
Ann: I always think that he was once somebody's baby boy...and he
had a mother and a father who loved him. And now, there he is, half-dead
on a park bench and where is his mother or his father or his uncles
now? Anyway, that's what I always think.
Ann:
Oh, olhe, isto é terrível [olhando para um mendigo].
Mark: Ele não está machucando ninguém.
Ann: Nem nós.
Ann: Oh, Deus! Todas as vezes que vejo um desses velhos, eu - eu sempre
penso a mesma coisa.
Mark: O que você pensa?
Ann: Eu sempre penso que ele foi uma vez algum garotinho... e ele
tinha uma mãe e um pai que o amava. E agora, lá está
ele, quase-morto em um banco de praça e onde está sua
mãe e seu pai ou tios agora? Pois bem, é isso que eu
sempre penso.
Na exposição dos valores e individualidade de Harry,
temos a revelação de suas manias, crenças religiosas,
falência amorosa e solidão. Coppola é persuasivo.
Deixa claro um forte olhar crítico ao processo de degradação
do indivíduo na metrópole moderna. O desvelamento da
‘alma’ deste personagem dentro da cultura urbana americana
torna-se um dos pontos altos do filme: é o olhar de Copolla
frente à destruição de valores humanos como preço
do progresso material no espaço urbano.

Não obstante, o filme enreda, in crescendo, a tensão
espiritual do espião e sua experiência desgostosa de
estar sendo também espionado. A incoerência de seu mundo
individual e social é totalmente despida quando ocorre a derradeira
e patética confissão de Harry em uma Igreja católica.
Ele quer se justificar assim ao padre: “Padre, eu não
sou responsável... É o meu trabalho... Mas as pessoas
se machucam pelo que faço. Eu peço perdão”.
Harry Caul vive em um mundo em que seus valores ético-religiosos
não podem mais ser apresentados sem contradição
com seus atos. A inesperada cena em que Harry está na uma Igreja
e se dirige ao padre para realizar sua confissão traz uma fala
que também é significativo destacar. Ela é a
seguinte:
“Bless me Father for I have sinned. Three months since my last
confession. I - these are my sins. Took the Lord's name in vain on
several occasions. On a number of occasions, I've taken newspapers
from the racks without paying for them. I've - deliberately taken
pleasure in impure thoughts. I've been involved in some work that
I think, I think will be used to hurt these two young people. It's
happened to me before. People were hurt because of my work and I'm
afraid it could happen again and I'm - I was in no way responsible.
I'm not responsible. For these and all my sins of my past life, I
am heartily sorry”.
“Perdoe-me,
Padre, pois eu pequei. Três meses desde minha última
confissão. Eu – isto são meus pecados. Falar o
nome de Deus em vão muitas vezes. Em inúmeras ocasiões,
eu peguei jornais de bancas sem pagar. Estive – deliberadamente
tomado de prazer por pensamentos impuros. Estive envolvido em alguns
trabalhos que eu penso, eu penso que vai machucar estes dois jovens.
Isto aconteceu comigo antes. Pessoas se machucaram por causa de meu
trabalho e estou com medo que isto aconteça de novo e eu –
eu não fui o responsável. Eu não sou responsável.
Por este e todos os meus pecados de minha vida, eu de coração
peço perdão”.
Temos
então o que nos tenciona a enfatizar nesta análise fílmica:
a forma inconsciente com que Harry encara sua profissão. Ele
quer entender a si mesmo como sendo igual as suas máquinas
modernas: um meio, um instrumento, que não define nenhuma finalidade
ou ato moral em si, e, por conseguinte, não tem qualquer responsabilidade
pelo que venha a ser feito com o produto de seu trabalho. O espião
vive na ilusão de ser um “técnico”, isto
é, na posição de uma simples utilidade maquínica,
e não um ser humano. Isto parece ser o que Coppola trabalha
mais sensivelmente.
É interessante lembrar aqui a crítica exposta por Herbert
Marcuse na obra “A Ideologia da Sociedade Industrial”.
Ele é quem melhor sentenciou que o mundo objetivado (da racionalidade
científico-tecnológica) separa-se e contrasta com o
mundo subjetivado (dos valores). Nesta separação e contraste:
bem e belo, paz e justiça “não podem ser extraídos
de condições ontológicas ou científico-racionais;
não podem, logicamente, invocar para si validez e realização
universais” (MARCUSE, 1978, p. 143). Em última instância,
concluía Marcuse, a sociedade industrial traz a dependência
à “ordem objetiva das coisas”. E o controle social
se resolve através do meio tecnológico: ele é
introjetado não apenas através da tecnologia, mas como
tecnologia, servindo-se a-politicamente e legitimado “racionalmente”
(idem, p. 154).
Para Harry, o status da técnica é da neutralidade. Está
cego ao “valor político” dela, dando às
costas para o trabalho “sujo” em que ele acaba realizando
para a sociedade (e devemos nos perguntar aqui: há algum ato
de espionagem que seja justo?). A sorte é que, como em todo
bom filme, não há esteriotipações, escatologias
e formalismo. Não obstante, o personagem se mostra de uma constituição
humana ímpar, o que provoca a conivência nossa com a
tragédia de Harry. Coppola atinge, aliás, a expressão
não-forçada, natural que prende e sensibiliza o público.
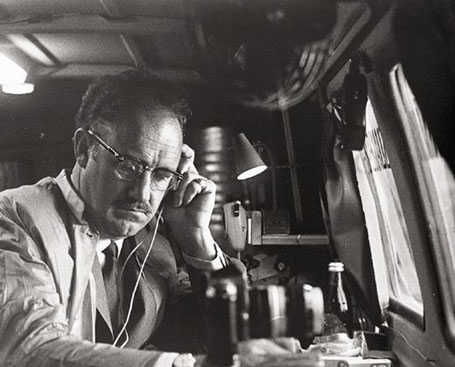
Cada
vez mais constante é nosso encontro com a figura de um Harry.
Com certeza, não somente na espionagem. Onde mora a Ética?
A cegueira dos indivíduos ou a resignação sempre
põe a resposta para um ‘lugar da ética’
longe de nosso mundo.
Contudo, no que diz respeito a espionagem, um discurso dispersa o
filme. Se a década de 1960 foi, talvez, os ‘anos de ouro’
da espionagem nos EUA, a década de 1970 foi os de decadência.
Foram também os anos da disseminação da espionagem
para dentro dos EUA. Isto é, não mais restrita para
fins geopolíticos estatal. Apareceram escândalos de todos
os tipos: lavagem de dinheiro, lobbies, abusos e oportunismos diversos
na administração pública. A espionagem foi quase
sempre – como é ainda hoje – a fonte de “captura”
das denúncias.
Com a modernidade-técnica, muita coisa mudou depois do imaginário
ocidental criado pelo personagem literário clássico
Sherlock Holmes, de Conan Doyle, escrito no século XIX, passou
a figurar o imaginário ocidental. O detetive ‘particular’
hoje não tem mais o arquétipo de um genioso e excêntrico
cientista que segue pistas com uma lupa, mas está bem mais
próximo de uma “profissão” da modernidade
como qualquer outra. Há, sem dúvida, uma história
muito interessante a respeito da inserção do detetive
na vida social, no século XX: na sociedade de controle e vigilância
como a nossa. Podemos lembrar, por exemplo, como a proliferação
das formas de investigação da CIA (Central of Intelligency
Agency), durante a Guerra Fria, trouxe, na sociedade americana, dispositivos
de investigação da vida social e íntima, com
avançados e variados recursos tecnológicos. As cenas
do “Workshop” no filme expõem impetuosamente isso.
Diga-se, de passagem, que o filme de Coppola nos deixa claro, por
exemplo, que se em tempos atrás um poeta como Castro Alves
poderia declamar que “a praça é do povo, como
o céu é do condor”, hoje tal poeta já teria
suas dúvidas. O filme é uma sutil crítica à
sociedade de controle, que vigia o outro, que faz o inquérito
e antecipação de julgamentos... Mostra, enfim, que o
problema maior desta sociedade é a crise ética. E esta
não irá se resolver com mais supervisões, câmeras,
escutas telefônicas etc. O resultado de Harry é a frustração,
o descrédito, o instinto de destruição, o desapego
e a solidão.
Bernard Stiegler (2004), filósofo contemporâneo francês,
merece menção aqui. É ele, pois, que investe
na formulação crítica de que as atividades industriais
criam tecnologias que apropriam, controlam e homogeneízam os
comportamentos. Vivemos em um tempo em que consciências são
determinadas por uma hiper-industrialização que controla
tudo. A fabricação, reprodução, diversificação
e segmentação das necessidades de consumo são
ditadas. E a perda generalizada da subjetividade e caráter
humanos é reinante. As máquinas, como previa Gilbert
Simondon (1989), criam uma hipertelia própria no mundo moderno:
as partes se autonomizam e quanto mais uma parte é usada mais
ela se desenvolve em detrimento de qualquer outra subordinação.
O problema é o homem estar cego para isso.
Harry é, enfim, vítima da vigilância eletrônica
que ele próprio disseminou e agora desnuda sua vida privada.
Se a “invasão de privacidade” é uma constante,
o voyeurismo que há hoje nos espaços urbanos e virtuais
não é outra coisa que senão a expressão
da solidão radical de cada um de nós, tal como escrevia,
em seus termos, Hanna Arendt. Ficamos à procura de compensarmos
a desumanização e falta de afeto. Não mobilizamos,
contudo, a capacidade de reflexão e aproximação
crítica em relação à situação
vivida. Não é à toa que a obra de Saramago, “Ensaio
sobre a cegueira”, diz muito sobre o nosso tempo.
Cinemas como os de Coppola não deixam dúvidas: uma das
grandes questões da Modernidade é a indefinição
da responsabilidade social na implementação de novas
tecnologias. A “ética da responsabilidade” dos
escritos filósofos de Hans Jonas (1999) nos alerta para isso.
Ética que vai além da busca individual de satisfação,
que ultrapassa as idéias de felicidade estritamente materiais
e egoístas – que pode preserva, pois, as condições
futuras de felicidade em sociedade e cuidado com o mundo.
A que se notar, por fim, a divina trilha do compositor David Shire
e de Jazz que, ao fundo, reforça toda a profundidade que o
filme constitui. É com música de Jazz que, ao fim do
filme, o detetive mostra toda a sua sensibilidade e a afirmação
de que algo ‘muito horrível’ acontece em sua vida
– uma verdadeira tragédia que envolve a destruição
de seu próprio mundo.
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS:
SIMONDON,
Gilbert, 1989 [1959], Du mode d'existence des objets techniques. 2°
edition, Paris: Aubier.
MARCUSE, Herbert, 1978 [1964], A ideologia da sociedade industrial.
O homem unidimensional. 6° edição, Rio de Janeiro:
Zahar Editores.
JONAS, Hans, 1999, Por que a técnica moderna é um objeto
para a ética. Tradução de Oswaldo Giacoia Jr.
In: Natureza Humana: Revista Internacional de Filosofia e Práticas
Psicoterápicas. São Paulo, v. 1, n. 2, p. 407-420.
STIEGLER, Bernard, 2004, “Contribution à une théorie
de la consommation de masse. Le désir asphyxié, ou comment
l’industrie culturelle détruit l’individu”.
Archives LE MONDE, Juin 2004. Acessado em 9/06/2008. http://www.monde-diplomatique.fr/2004/06/STIEGLER/11261.
Ednei
de Genaro
Mestrando em Sociologia Política pela UFSC (2008)
|
|